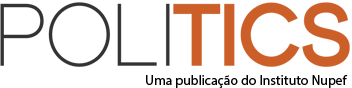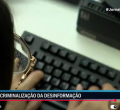A atuação das diferentes coalizões na definição da política de regulação do ambiente digital no Brasil

Giovana Tiziani é jornalista, formada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e mestra em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB) e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É servidora pública de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Suas mais recentes atuações foram na Secretaria-Executiva da Secretaria de Relações Institucionais e na Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação, ambas subordinadas à Presidência da República. Atualmente, é chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde.
Thássia Alves é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. É mestra e doutoranda no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, na Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC (UFABC). A ênfase de sua experiência está na atuação em assessorias de comunicação em instituições públicas, a exemplos do Governo do Distrito Federal (GDF), da Universidade de Brasília (UnB), do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde (MS), da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e do Senado Federal.
Resumo
Este artigo traz uma análise da forma como os atores envolvidos no processo de regulação da Internet no Brasil se articularam e como evoluiu esta política no período de 1999 a 2023, por meio da utilização da estrutura desenvolvida por Sabatier (1988), o Advocacy Coalition Framework (ACF). Dentre os achados, foi possível delimitar — por meio da identificação de crenças — coalizões que fogem do agrupamento geralmente feito em estudos de políticas públicas quando se trata das partes interessadas, quais sejam: agentes governamentais, agentes privados e agentes da sociedade civil. Além disso, foi possível detectar que seus comportamentos durante o processo de elaboração de uma política pública não se dão de maneira homogênea e que as coalizões organizadas com base em crenças elucidam as aparentes contradições e tornam mais visíveis as brechas possíveis para construção de consensos, facilitando a atuação dos policy brokers.
Introdução
Notícias falsas ou parcialmente verdadeiras sempre existiram ao longo da história da humanidade com o objetivo de direcionar o curso dos acontecimentos de acordo com interesses de grupos econômicos e políticos (ARENDT, 1989). A novidade é que em menos de uma década o uso da mentira para vencer aquele que se considera opositor teve seu alcance ampliado e o impacto produzido se tornou maior em razão da tecnologia existente para sua difusão.
A disseminação — por meio da arquitetura das plataformas digitais — de conteúdos desinformativos, de ódio, ilegais e/ou criminosos e seus efeitos, como o agravamento de epidemias (como a da Covid-19), a desestabilização de regimes democráticos (invasão do Capitólio nos EUA e atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 no Brasil) e a incitação à violência (linchamentos na Índia), colocou em alerta diversos países, que passaram a vislumbrar a necessidade de regular de alguma forma as plataformas como meio de conter as ondas de desinformação (LOPES, 2022).
No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a atuar de modo específico e temporário para derrubar conteúdos da Internet e conter excessos nas eleições de 20221.
Passado o período eleitoral, o problema permaneceu e o tema passou a exigir alteração do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014), que em seu artigo 19 prevê que os provedores de aplicações (Facebook, Google, Tiktok, dentre outros) só respondem civilmente por um conteúdo publicado quando descumprirem uma ordem judicial para a remoção do conteúdo. Em novembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações que questionam a validade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet (MCI).
No Congresso Nacional, o Projeto de Lei n. 2630/2020, que visa estabelecer um manual de conduta para as plataformas (CN, 2020), aguarda análise. O tema ganhou ares de urgência em razão dos ataques terroristas às sedes dos três Poderes ocorridos em 8 de janeiro de 2023, fazendo com o que parlamento e o governo recém-eleito acelerasse a discussão sobre o tema de responsabilização das plataforma.
Este artigo busca contribuir com a análise — por meio da abordagem Advocacy Coalition Framework (ACF) — da formação desta agenda e da atuação de diferentes coalizões na política de regulação do ambiente digital no Brasil de 1999 a 2023, considerando que a regulação de plataformas depende de regramento e que ainda está em uma etapa inicial da composição das coalizões.
Fases da regulação da Internet no Brasil
Para facilitar a análise da política de regulação da Internet no Brasil no período de 1999-2023, optou-se por dividir o período de estudo em três fases: (i) vigilância e punição (1999-2009); (ii) liberdade e defesa de direitos (2009-2019); (iii) desinformação e discurso de ódio na berlinda (2019-2023), cujos principais marcos temporais estão resumidos na Figura 1.
Figura 1 — Linha do tempo: marcos da regulação da Internet no Brasil

Fonte: Elaborado por Tiziani (2024).
Primeira fase: vigilância e punição
No início dos anos 2000, os debates sobre Internet no mundo giravam em torno de questões relacionadas à segurança. Abramovay (2017) descreve detalhes desse período e explica que a aliança entre setores da segurança pública, da indústria fonográfica — que buscava defender os direitos dos autores da onda de downloads das obras — e o setor bancário, que acumulava prejuízos em razão de fraudes financeiras, levou à aprovação de “legislações que criminalizavam novas condutas praticadas por usuários da Internet e criavam um amplo sistema de vigilância sobre os usuários em diversos países” (p 51).
No Brasil, em 1999, o deputado Luiz Piauhylino (PSDB-PE) apresentou projeto de lei propondo novos tipos penais para condutas praticadas por meio da Internet. A tramitação do projeto seguiu lenta na Câmara, sendo aprovada em 2003. No Senado, ele recebe, em 2006, um substitutivo do Senador Eduardo Azeredo (PSDB- MG).
A proposta gerou reação de ONGs e das empresas provedoras de aplicações, que pressionaram os parlamentares. Em reação, eles se abriram ao debate e oganizaram um seminário em que ficou evidente o antagonismo com o setor bancário e a Polícia federal. (ABRAMOVAY, 2017).
Em 2007, o advogado Ronaldo Lemos crava o termo “Marco Civil da Internet”. A ideia é que era preciso um marco civil antes de um penal. O projeto avança e é aprovado em 2008 no Senado. Em 2009, a parcela da sociedade civil pró-liberdade na Internet lança a campanha “MegaNão” para se opor ao projeto Azeredo. Em junho de 2009, Lula anuncia a posição do governo sobre o tema durante o Forum Internacional do Software Livre (FISL), em Porto Alegre: ele critica o PL de Azeredo e sugere uma mudança no código civil para evitar abusos na Internet2.
Segunda fase: liberdade e defesa de direitos
Marco Civil da Internet
A partir da encomenda feita pelo Presidente da República de que o desenho da legislação que fosse regular a Internet brasileira deveria seguir o caminho da proteção de direitos e não da criminalização, o Ministério da Justiça optou por realizar uma consulta pública ampla e em moldes inovadores.
Para Cruz (2016), a estratégia política de incluir num mesmo arranjo (a consulta) os grupos que pressionavam contra o PL de Cibercrimes e aproveitar a força política presente em setores acadêmicos (CTS-FGV), técnicos (CGI.br) e no movimento “Mega Não” significou o apoio e legitimidade necessários para a substituição da pauta criminal pela pauta civil.
O processo de construção do texto foi longo, com o Projeto de Lei 2126/116 chegando ao Congresso após cerca de dois anos de iniciado o processo de consulta, que levou um ano e meio, e consolidação do texto entre os Ministérios do Poder Executivo cuja tramitação levou quase um ano.
Neste processo de construção do texto, mudanças significativas foram vivenciadas no interior do Executivo Federal, a começar pela titularidade da presidência da República, que em janeiro de 2011 passou para as mãos de Dilma Rousseff e, com isso, novos ministros assumiram como interlocutores.
O debate no Congresso sobre o PL que daria origem ao Marco Civil da Internet foi marcado por uma série de dinâmicas complexas, incluindo o papel do relator, o deputado Alessandro Molon (à época no PT-RJ) e do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a influência do debate público anterior e os interesses dos diversos atores envolvidos.
Uma nova consulta pública foi feita, desta vez no âmbito do Legislativo, tendo como base o texto construído pelo Executivo. Molon apresentou um relatório com mudanças no texto original, o que desarticulou o acordo alcançado durante a consulta pública. Sua abordagem em relação à neutralidade da rede gerou preocupações entre as empresas de telecomunicações, que passaram a agir de forma mais agressiva contra o projeto (ABRAMOVAY, 2017).
As tentativas de votação do projeto foram adiadas repetidamente devido à falta de consenso e à crescente oposição das empresas de telecomunicações.
Em maio de 2012, um evento externo interfere na dinâmica do processo de aprovação do Marco Civil da Internet: o vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann. O episódio gerou comoção pública e pressionou o Congresso e o governo a agir rapidamente, resultando na aprovação de lei que criminaliza a invasão de computadores e a divulgação de dados sigilosos, o que renovou a pressão para a votação do Marco Civil. Questões como a neutralidade da rede e direitos autorais geraram impasses. Indústria de conteúdo e empresas de telecomunicações influenciaram o debate e as negociações. Os conflitos geraram mudanças no texto, incluindo disposições relacionadas ao direito autoral, que não estavam presentes no original. A negociação foi marcada por tensões entre diferentes grupos de interesse, incluindo o movimento pela Internet livre, provedores de Internet, produtores de conteúdo e empresas de telecomunicações. Apesar dos desafios, o projeto foi eventualmente recuperado e recebeu apoio de setores anteriormente contrários, como a Rede Globo e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV — ABERT (ABRAMOVAY, 2017).
Em julho de 2013, as revelações de Edward Snowden sobre a espionagem dos Estados Unidos desencadearam uma série de ações por parte do governo brasileiro, incluindo a convocação do embaixador americano, o cancelamento de uma visita da presidente Dilma Rousseff aos EUA e a busca por respostas legislativas, resultando na aprovação da lei.
O Marco Civil foi visto como uma resposta política à violação da soberania nacional representada pelas atividades de espionagem. A aprovação foi considerada uma prioridade pelo governo.
Apesar das divergências e da turbulência política, o Marco Civil da Internet foi votado e aprovado no dia 25 de março de 2014. E, por pressão do governo, no dia 23 de abril, a Lei 12.965 foi aprovada sem discussão e de modo relâmpago no Senado.
A Lei Geral de Proteção de Dados
Embora o Marco Civil da Internet traga, no inciso III do artigo 3º, a ideia da proteção de dados como um dos princípios fundamentais do uso da Internet no Brasil, ainda faltava maior especificidade quanto à proteção dos dados pessoais, razão pela qual foi publicada, em 2018, a Lei 13.709, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
O processo de elaboração de uma legislação abrangente sobre proteção de dados teve início no Ministério da Justiça, onde foi concebida uma proposta preliminar de Lei de Proteção de Dados. O documento foi submetido a um processo de consulta pública em dezembro de 2010, seguindo os moldes da elaboração do Marco Civil da Internet (BIONI, 2021).
De janeiro a julho de 2015, o Ministério da Justiça realiza uma segunda consulta pública para coletar sugestões para uma nova versão do anteprojeto do Executivo, que é finalizada em outubro, mas enviada à Câmara dos Deputados — PL 5276/2016 —, somente em maio de 2016, como um dos últimos atos da então presidente Dilma Rousseff, que foi afastamento do cargo alguns meses depois, em agosto, em razão do processo de impeachment (BIONI, 2022).
Entidades da sociedade civil, com experiência de articulação adquirida durante a construção do MCI, formalizaram a Coalizão Direitos na Rede em junho de 2016, visando influenciar a elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo teve papel importante na seleção do relator, o deputado Orlando Silva. Para aprofundar o debate, Silva solicitou a tramitação do projeto por quatro comissões, originando a criação da Comissão Especial da Câmara sobre Tratamento e Proteção de Dados Pessoais em outubro de 2016. O texto permaneceu congelado em 2017 e só ganhou proeminência em 2018, por conta de uma série de eventos ligados ao cenário internacional: o escândalo Cambridge Analytica; o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) europeu; o desejo expresso do Brasil ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que exige a regulamentação de uso de dados pessoais; e, por fim, uma articulação interna à Câmara dos Deputados para a aprovação das alterações na Lei do Cadastro Positivo, que envolvia a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados como condição indispensável.
O PL 4060/2012 foi aprovado na Câmara em maio de 2018, e aprovado em regime de urgência no Senado, em julho do mesmo ano, sendo convertido na Lei 13.709 de agosto do mesmo ano pelo então presidente Michel Temer.
Terceira fase: desinformação na berlinda
Entre a aprovação do Marco Civil da Internet, em 2014, e a proposição do Projeto de Lei 2630, que institui a “Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”, passaram-se seis anos. Tempo suficiente para grandes mudanças ocorrerem no ambiente digital. Neste período, para citar alguns exemplos, podemos mencionar as fake news, a manipulação de dados pessoais para orientar campanhas eleitorais, a ampla adoção da inteligência artificial e a transformação do modelo de negócios, como Uber e Airbnb, na prestação de serviços em mercados de dois lados. Essas mudanças levantam novas questões sobre os deveres e responsabilidades que as plataformas devem assumir diante da sociedade, dada a repercussão social e política que envolve suas atividades (MONTEIRO e HARTMANN, 2020).
O ano de 2020 também foi o ano da pandemia da Covid-19, em que as ações de saúde pública do mundo todo tiveram que lidar com correntes e ondas desinformativas sobre tratamentos e vacinas, agravando ainda mais a situação que já era alarmante pelo número de mortes.
Neste contexto, teve origem o PL 2630/2020 a partir de uma iniciativa do chamado Gabinete Compartilhado, composto pelos deputados Tábata Amaral (PDT/SP) e Felipe Rigoni (PSB/ES), e pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
No Senado Federal, o projeto tramitou rapidamente e foi aprovado por 44 senadores contra 32 em apenas um mês. Após a aprovação no Senado, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde foram realizados debates públicos e criado um Grupo de Trabalho (GT-NET) para analisar e elaborar parecer sobre o PL. Em dezembro de 2021, o texto-base do projeto foi aprovado. Em abril de 2022, o PL foi levado ao plenário da Câmara para votação de sua urgência, que não foi aprovada na ocasião.
O PL 2630 entra em estágio de hibernação por quase um ano. No início de 2023, uma série de fatores contribui para a retomada do projeto, incluindo a inundação de notícias falsas durante o período eleitoral, os eventos golpistas de 8 de janeiro e a então recente aprovação do Ato de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês) na União Europeia. O novo governo recém-empossado também se mostrou interessado em levar suas contribuições ao texto.
O relator Dep. Orlando Silva apresentou um novo texto em abril de 2023. Em 25 de abril de 2023, a urgência do PL foi aprovada. Em maio, ele entrou na pauta de votação, mas foi retirado — a pedido do relator — pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL). A avaliação era de que não havia votos suficientes para aprovação. Opositores do projeto viabilizaram a narrativa de que o PL 2630 serviria para regulamentar a censura, embora ele não trate em nenhum de seus artigos de regulação de conteúdo. Um dos principais argumentos é que o conceito de "dever de cuidado”, apontado pela proposição, seria uma espécie de controle prévio de conteúdo. Entretanto, ele trata de uma responsabilização das plataformas para adoção de medidas proativas na prevenção de conteúdos ilícitos já previstos em lei.
O Projeto volta ao estágio de hibernação, até que, em abril de 2024, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, decide criar novamente um Grupo de Trabalho para a elaboração de um novo texto tornando mais distante a possibilidade de votação do PL 2630.
O sistema de crenças e a formação das coalizões
A literatura considera as coalizões como grupos de atores que compartilham um conjunto de crenças e que agem em conjunto dentro dos chamados subsistemas de políticas. O bloco de atores pode ser formado por instituições, políticos profissionais, organismos multilaterais ou movimentos sociais, por exemplo. De maneira geral, o objetivo é influenciar decisões e o desenho das políticas públicas (ROMAGNOLI, MARTELLI, 2022; SOLAGNA, 2020). O modelo do ACF propõe um sistema hierarquizado de crenças, organizado em três níveis (SABATIER, 1988, p. 145):
- deep core — de caráter normativo e ontológico que valem para todos os subsistemas. Dificilmente as crenças do núcleo profundo mudam;
- policy core — relacionadas ao subsistema específico e podem mudar em função do aprendizado, de modo lento;
- secondary aspects — decisões instrumentais que mudam com facilidade.
A partir da codificação documental da transcrição das 27 audiências públicas sobre o PL2630/2020 realizadas em 2020 e 2021 e de análise documental de teses e artigos que descrevem o processo legislativo da construção do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados e de análise do material da consulta do CGI.br sobre regulação de plataformas3, foi possível identificar que no subsistema da regulação do ambiente digital no Brasil existem:
- no deep core, três categorias de crenças: visão essencial sobre o Estado; visão essencial sobre liberdade de expressão; identidade socioeconômica.
- no policy core, seis categorias de crenças: aplicabilidade das leis existentes; causa da insegurança na Internet; prioridade do problema; estratégia para resolver o problema; compartilhamento da autoridade para resolver o problema e o modo pelo qual se dá a segurança na Internet.
A partir das crenças acima descritas, o modelo analítico do ACF permitiu identificar três coalizões:
- Coalizão A — Defensores da Internet como expansão do mundo real;
- Coalizão B — Internet como aprofundamento do mundo real e
- Coalizão C — Defensores da Internet como ferramenta.
A Coalizão A tem uma visão da Internet como um novo mundo a ser explorado, que permite a inclusão daqueles que estão excluídos no mundo real, que amplifica, amplia as vozes e, em certa medida, traz a possibilidade de equalizar as desigualdades existentes no mundo real.
Nesta coalizão, as crenças profundas que os unem é a de que o direito à liberdade de expressão tem sentido amplo, quase irrestrito e que o papel do Estado é garantir o exercício desse direito. Entre as crenças de políticas públicas, prepondera a opinião de que as leis existentes já são suficientes para controlar abusos e excessos cometidos no ambiente digital, e que a melhor estratégia para resolvê-los é a autorregulação. Este grupo concorda também que no caso de haver algum órgão regulador para mediar o ambiente digital, ele tem de ser multissetorial. E temem que a regulação possa ser ou uma ameaça à liberdade de expressão ou um obstáculo à inovação. Há divergências dentro da coalizão relacionadas à promoção de maior transparência sobre uso que plataformas e sites fazem dos dados dos usuários no ambiente digital ou manter a garantia de sigilo de suas estratégias de moderação ou de impulsionamento. Entre os defensores da transparência como forma de garantir maior segurança no ambiente digital preponderam integrantes da sociedade civil, como ONGs e institutos de pesquisa. Vale reforçar que transparência aqui deve ser entendida como o direito do usuário saber como funcionam os algoritmos que direcionam os conteúdos e como é feita a moderação. Já entre os que defendem o direito das plataformas digitais de manterem suas estratégias em sigilo estão, obviamente, as empresas de tecnologia e suas associações.
A Coalizão B, por sua vez, enxerga a arena digital como um aprofundamento do mundo real. A visão aqui é de que as regras que valem para o mundo real devem valer para o mundo virtual a fim de que não sejam aprofundadas as injustiças, os crimes e as desigualdades. Desta coalizão fazem parte integrantes do meio jurídico, parcela da sociedade civil, as empresas de telecomunicações e alguns representantes do governo e da burocracia estatal. Este grupo compartilha as crenças profundas de que a liberdade de expressão é restrita pelos outros direitos fundamentais e que o papel do Estado é o de moderar essa relação entre os direitos. As crenças de políticas públicas desse grupo são a de que as leis existentes não são suficientes para conter abusos e excessos do ambiente digital, que a insegurança na Internet é tema urgente a ser enfrentado, que a causa dos abusos está relacionada à falta de regras existentes e à arquitetura de funcionamento das plataformas, e que para lidar com eles é preciso haver uma autorregulação regulada por um órgão estatal, ou no máximo, multisetorial. Portanto, para esta coalizão a regulação significa segurança jurídica para empresas e proteção para os usuários.
Já a Coalização C trata a Internet como uma ferramenta ou espécie de veículo de informações, numa visão um tanto utilitarista em que o ambiente digital se desenvolve de acordo com as necessidades da sociedade, estando à disposição para o uso das pessoas conforme seus interesses. Integram esta coalização as forças mais conservadoras, como instituições policiais, integrantes do Ministério Público e grupos alinhados à ideologia mais à direita do espectro político. A crença profunda que une o grupo é a de que a principal função do Estado é punir aqueles que cometem atos ilícitos. Entre as crenças de políticas públicas, este grupo trata o tema como urgente. São motivados pela não aplicação das leis existentes, avaliadas como suficientes. Além disso, acreditam que é preciso haver mais vigilância sobre a conexão entre perfis das plataformas com o CPF de usuários. O grupo não é coeso sobre necessidade ou não de regulação e qual seria sua composição, se estatal, multisetorial ou privada.
Movimentação dos grupos dentro do subsistema
De acordo com o ACF, as mudanças ocasionadas nas políticas públicas ocorrem em razão dos fatores internos e externos ao subsistema por meio de três mecanismos: (1) o aprendizado orientado às políticas públicas; (2) choques internos e externos; e (3) acordos negociados (SABATIER; WEIBLE, 2007).
À medida que as coalizões de defesa se organizam, elas competem para traduzir as crenças em políticas públicas, e assim participam de processos contínuos de aprendizagem (policy-oriented learning). Esse modelo de aprendizado é o pilar da dinâmica interna desse subsistema e influencia a percepção dos policy makers (implementadores de políticas), atuando de forma a fortalecer as coalizões às quais estão vinculadas. Em geral, existe dentro de um subsistema uma coalizão dominante que, devido à sua grande influência no processo político, consegue impor sua visão no processo de implementação das políticas públicas, o que depende dos recursos disponíveis (verbas, conhecimento, apoios políticos).
Esses grupos de atores discutem as questões no espaço do subsistema político e tentam influenciar as decisões dos demais atores presentes no subsistema. Entretanto, é preciso analisar o contexto no qual está inserido esse subsistema, ou seja, deve-se considerar os eventos exógenos (estáveis e dinâmicos) e os eventos internos, onde são gerados as políticas e os programas.
Dado que os subsistemas de políticas públicas são dominados por uma coalizão com uma ou mais coalizões minoritárias, as mudanças na política pública podem ocorrer em razão de: i) choques internos e externos redistribuírem recursos entre as coalizões ou ii) os choques internos e externos, ao indicarem falhas nas políticas da coalizão dominante, confirmarem crenças da coalizão ou coalizões minoritárias e aumentarem a dúvida no âmbito da coalizão dominante (SABATIER; WEIBLE, 2007, p. 204-205).
Quando não há perturbação interna ou externa, outro caminho para a mudança na política pública apontada por Sabatier e Weible (2007) são os acordos negociados, que guarda relação direta com o aprendizado orientado a políticas públicas e que tem origem na dinâmica de debate e conflito entre as coalizões.
Conforme apontado pelos autores, os acordos entre coalizões conflitantes ocorrem quando: a) as partes percebem que a manutenção do status quo resulta em um impasse; b) todos os representantes das coalizões estão presentes na mesa de negociação; c) mediadores neutros e habilidosos conduzem as negociações; d) são aplicadas regras de consenso; e) os fundos financeiros são reunidos a partir de fontes monetárias derivadas das diferentes coalizões; f) há comprometimento contínuo dos atores políticos; e g) os conflitos são mais relacionados a questões empíricas do que normativas. (SABATIER; WEIBLE, 2007).
O Quadro 1 busca estruturar e subsidiar a análise do subsistema de regulação do ambiente digital no Brasil a partir do ACF.
Quadro 5 — Quadro analítico da Regulação do ambiente digital no Brasil

Fonte: Elaborado por Tiziani (2024) a partir de Weible, Sabatier e McQueen (2009)
Os choques externos no subsistema analisado neste artigo, especialmente as revelações de Edward Snowden sobre a espionagem da NSA (2013) e o caso da Cambridge Analytica (2017), que coletou — sem consentimento — e vendeu dados de milhões de usuário do Facebook; e os choques internos, entre eles a aprovação da lei que criava tipos penais para Internet em 2012 (Lei Carolina Dieckman), a pressão da Câmara e do governo de Michel Temer para aprovar uma lei de proteção de dados com o intuito de aprovar o cadastro positivo e aumentar as chances do Brasil de ingressar na OCDE, foram decisivos para o engajamento do Centro de Governo e de parlamentares na reta final da aprovação dos projetos de lei do MCI e da LGPD pelo Congresso.
Entretanto, o processo de construção dos textos desses dois projetos de lei foi marcado pela ampla participação e busca de consensos. Foram, portanto, os acordos negociados e o aprendizado orientado para políticas públicas entre as três coalizões que permitiram chegar aos textos que acabaram aprovados.
Conforme descrição detalhada do processo de construção do MCI feita por Pedro Abramovay, os debates entre as coalizões durante um longo período levaram a aprendizados com relação às posições sobre aspectos instrumentais, o que possibilitou a mudança da política em direção a um consenso.
A estratégia política consistiu em abrigar e organizar, em um arranjo institucional dentro do Executivo, os grupos que pressionavam contra o PL de Cibercrimes, a fim de aproveitar essa energia política latente em setores acadêmicos (notadamente o CTS-FGV), técnicos (CGI.br) e no movimento “Mega Não”. A inclusão desses setores significou a agregação de apoio e legitimidade à substituição da pauta criminal por uma pauta civil e a pavimentação da construção pactuada de consensos em torno dessa legislação civil, com vistas à força política que aqueles atores poderiam oferecer a um possível futuro projeto. Com os consensos construídos de antemão, teria maiores chances a aprovação no Congresso, ainda que ali houvesse resistências dos deputados comprometidos com o PL Azeredo (CRUZ, 2016, p. 59). Algo semelhante aconteceu na construção de consensos em torno da LGPD.
Segundo Sabatier e Weible (2007), existem algumas pré-condições que fazem com que os acordos negociados levem a mudanças efetivas nas crenças de política pública e não somente nos aspectos instrumentais. Por exemplo: a situação deve ser tal que as diferentes partes vejam a continuidade do status quo como inaceitável, ou seja, um “beco sem saída”; as negociações devem durar tempo suficiente para que se chegue a acordo e contar com continuidade na participação dos negociadores, ou ainda que sejam escolhidos mediadores neutros e hábeis e que deve ser construída confiança mútua entre os negociadores, o que pode levar tempo considerável.
Os relatos presentes na literatura sobre os bastidores das negociações do MCI e da LGPD demonstram que os acordos negociados cumpriram os pré-requisitos elencados pelos criadores do ACF e pode ser essa uma das razões de êxito obtido nesta parcela do subsistema.
Nesses dois processos, vale mencionar ainda o papel dos policy brokers na mediação dos debates. No caso do MCI, foram os representantes do Ministério da Justiça e o então deputado Alessandro Molon (na ocasião, PT-RJ), e no caso da LGPD, esse papel ficou a cargo também de representantes do Ministério da Justiça e o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).
A análise dos debates entre as coalizões em torno do PL2630/2020, entretanto, se mostra um tanto mais complexa pelo fato dele ainda estar em andamento. A movimentação das coalizões em torno do PL2630/2020 começa em 2020, se estende por 2021, anos em que acontecem as audiências públicas, passa por um período de latência durante 2022 e é retomado com força em 2023, após o atentado de 8 de janeiro.
É possível arriscar, com base nos recentes choques externos e internos, que ficaram salientes algumas falhas no sistema de crenças na coalizão dominante, a Coalizão A. Dúvidas sobre a suficiência das leis existentes e da capacidade da auto-regulação para enfrentar as ondas de desinformação e discurso de ódio na Internet pode ter levado à acirramento de divergências entre os grupos que compõem a Coalizão A, o que colabora para o seu enfraquecimento como Coalizão dominante.
Além disso, os fatores internos e externos ocorridos a partir de 2018 que evidenciaram o poder desestabilizador das ondas de desinformação e de discurso de ódio sobre os regimes democráticos podem estar na origem do deslocamento de recursos entre as coalizões. Parte da opinião pública, por exemplo, ao ser sensibilizada pelos episódios de abusos cometidos na Internet10 — passa a cobrar ações mais enérgicas do poder público. Parcela da comunidade acadêmica e de organizações da sociedade civil começam a produzir dados e pesquisas que demonstram a necessidade de maior regulação do ambiente digital. Entre os exemplos de instituições de pesquisa, podemos citar o NetLab da UFRJ, o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação Digital (Gpopai) da USP, e o Instituto Democracia em Xeque. Pelo lado da sociedade civil, redes como Avaaz e o movimento do Sleeping Giants se esforçam para mobilizar tropas a favor da regulação.
A mudança de governo, com a eleição de Lula em 2022, por sua vez, promove a alocação de maior número de integrantes do governo na Coalizão B, que começa a disputar com a Coalizão A a dominância no subsistema na retomada do debate sobre o PL2630/2020 a partir de 2023.
Porém, a Coalizão B ainda não parece demonstrar capacidade de mobilizar tropas tampouco é possível identificar com clareza quem é a liderança no seu interior que será capaz de movimentar os atores e as demais coalizões na direção de um consenso. O policy broker é o Deputado Orlando Silva, relator do PL2630/2020 na Câmara, que acumula experiência de ter sido bem-sucedido na aprovação da LGPD.
Ao estudar mais a fundo as crenças de políticas públicas de cada um dos atores, é possível detectar que seus comportamentos durante o processo de elaboração de uma política pública não se dão de maneira homogênea, em blocos. As coalizões organizadas com base em crenças elucidam as aparentes contradições e tornam mais visíveis as brechas possíveis para construção de consensos, facilitando a atuação dos policy brokers.
E esta movimentação das coalizões está diretamente associada ao conceito do aprendizado orientado para a política pública, que representa “a alteração de percepção e comportamento ante a solução de um problema público decorrente da revisão do sistema de crenças de indivíduos ou grupos” (OLIVEIRA E SANCHES FILHO, 2022).
Mesmo sendo um aspecto teórico subjetivo e, portanto, difícil de mensurar, o aprendizado orientado para políticas públicas pode ser compreendido a partir de três questões básicas: 1) quais componentes dos sistemas de crenças mudaram ou se mantiveram ao longo do processo de aprendizado 2) quais contextos promovem o aprendizado por membros da coalizão e 3) como o conhecimento é difundido entre aliados e possíveis oponentes (JENKINS-SMITH E SABATIER, 2018).
Ao longo do processo de aprendizado existente no subsistema de regulação da Internet no Brasil, a crença de que as leis existentes são suficientes para controlar os abusos e excessos cometidos no ambiente digital e a de que a autorregulação é a melhor saída para manter o ambiente digital informacional saudável foram os componentes que mudaram ao longo do período analisado, possibilitando a movimentação das coalizões no interior do subsistema.
O nível de conflito entre as coalizões oscilou pouco ao longo do período analisado, mantendo-se numa escala intermediária na maior parte do tempo. Para Oliveira e Sanches Filho (2022), “políticas públicas com nível intermediário de conflito e com informações técnicas e científicas disponíveis tendem a prover estudos com maior potencial de aplicabilidade do ACF”.
Na primeira fase, o nível de conflito entre as coalizões A e C era alto, em razão da acentuada diferença entre as crenças centrais da política pública de cada coalizão, tornando impossível a mudança de posição.
A partir da segunda fase, o nível de conflito entre as coalizões foi diminuindo a com a realização de consultas públicas e abertura de maior diálogo com os grupos organizados, tanto no processo de construção do MCI quanto da LGPD. Esse processo gerou aprendizado orientado para política públicas, com ampla troca de informações técnicas e argumentos, possibilitando a pavimentação do caminho que levaria a algum nível de consenso. Embora tenha arrefecido, o nível de conflito não se tornou baixo a ponto de esvaziar a arena de negociação do sistema, o que seria ruim para a definição de políticas pública já que as coalizões podem abandonar o debate para se dedicar a outros temas.
Na terceira fase, o nível de conflito entre as coalizões A e B mantem-se em um nível intermediário, o que tem possibilitado a geração de volume considerável de conhecimento, mas que ainda não parece ser suficiente para orientar os atores em direção à política pública. O ponto de destaque desta fase é o fato de que os choques internos e externos ao subsistema levaram à troca da preponderância da Coalizão A pela Coalizão B.
A análise da movimentação das coalizões também deve considerar qual a estrutura de oportunidade que organiza a relação Estado/sociedade no Brasil, que é corporativista tradicional, marcada pela participação de poucos atores, organizados em associações que centralizam as demandas e pautas, atuando num sistema cujo grau de consenso requerido para aprovação de uma política é elevado.
Neste cenário, de necessidade de consensos amplos e participação restrita, vários atores se apresentam como mediadores. No subsistema da regulação da Internet no Brasil, destacamos4 Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br, e Ronaldo Lemos, Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, além do relator, Alessandro Molon, como mediadores no caso da negociação e aprovação do MCI. E Bia Barbosa e Renata Mieli, no âmbito da CDR, o advogado Danilo Doneda, e o relator Deputado Orlando Silva, importantes atores na mediação da construção da LGPD.
Já no caso da construção do PL 2630, embora diversos atores tenham se colocado como possíveis mediadores, nenhum deles se mostrou capaz, pelo menos não até o momento, de fazer convergir os interesses das coalizões. Talvez esse seja justamente o nó que precisa ser desatado para que haja sua aprovação: o subsistema não apresenta mediadores que gozam da confiança dos diversos atores envolvidos no processo e que sejam capazes de promover a movimentação das coalizões em direção à política pública.
Considerações finais
A abordagem teórico-metodológica do ACF permitiu, por meios de seus diversos componentes: a) englobar numa mesma análise uma série de eventos, atores e contextos que podem variar no decorrer de um longo período; b) chegar a percepções contraintuitivas (coalizões e seus movimentos) e c) compreender a dinâmica de um subsistema de modo mais holístico e não apenas descritivo das etapas do processo.
Por meio da identificação de crenças, chega-se a coalizões que fogem do agrupamento geralmente feito em estudos de políticas públicas quando se trata das partes interessadas, quais sejam: agentes governamentais, agentes privados e agentes da sociedade civil. Ressaltamos que eles são atípicos porque seus atores se combinam, especialmente nas coalizões A e B, ao invés de estarem agrupados em blocos separados.
Ao permitir maior compreensão de como as coalizões se movem internamente e entre elas, a abordagem do ACF pode auxiliar na elaboração de estratégias por parte das diferentes coalizões e na construção de novos consensos que ainda são e serão requeridos no interior desse subsistema. Vale reforçar que ele continua em plena atividade, pois não temos o desfecho da votação do PL2630/2020, tampouco a análise da construção de um marco regulatório para a Inteligência Artificial, que ficou de fora deste estudo e que ganhou tração a partir de 2024 com as discussões sendo feitas em torno do PL 2338/2023, em tramitação no Senado Federal.
Referências
ABRAMOVAY, P. V. Sistemas deliberativos e processo decisório congressual: um estudo sobre a aprovação do Marco Civil da Internet. 167 f. 2017. Tese (Doutorado em Ciência Política) — Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras. 1989.
BIONI, Bruno. Proteção de dados: contextos, narrativas e elementos fundantes. São Paulo, 2021. Disponível em: https://conteudo.dataprivacy.com.br/ebook-livro-artigos-bruno-bioni. Acesso em: 7 de março de 2024.
BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 03 de março de 2024.
CN. Projeto de Lei n. 2630/2020. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. 2020. Disponível em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2256735. Acesso em: 3 de março de 2024.
CRUZ, Francisco C. B. Direito, Democracia e Cultura Digital: A experiência de elaboração legislativa do Marco Civil da Internet. Dissertação (mestrado em Direito) — Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-08042016-154010/en…. Acesso em: 3 de março de 2024.
JENKINS-SMITH, H. C.; SABATIER, P. A. The study of policy processes. In: SABATIER, P. A.; JENKINS-SMITH, H.C. (Eds.). Policy change and learning: an advocacy coalition approach. Boulder, CO: Westview Press, p. 1-9, 1993.
LOPES, M. F. A nova fase de regulação das redes sociais. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2022/A-nova-fase-de-regula%C3%A7%C…. Acesso em: 2024.
MIRANDA, F. C. P.; VILELA, C. A atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação. Blog Gestão, Política & Sociedade, 2022. Disponível em: https://www.estadao.com.br/politica/gestao-politica-e-sociedade/a-atuac….
MONTEIRO, Julia Iunes; HARTMANN, Ivar. Responsabilidades e deveres das Plataformas Digitais: como andam os debates no Congresso?. In: AYRES PINTO, D.J. et al. Direito, governança e novas tecnologias II. Florianópolis: CONPEDI, 2020.
ROMAGNOLI, Alexandre J; MARTELLI, Carla G. G. Análise da política nacional brasileira de habitação popular através do advocacy coalition framework. V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. “Democracia, justicia e igualdad” FLACSO URUGUAY. 2022.
SABATIER, P. An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy Sciences, v. 21, n. 2, p. 129-168, 1988.
SABATIER, P.; WEIBLE, C. The advocacy coalition framework: innovations and clarifications. In: SABATIER, P. (Ed.). Theories of the policy process, 2. ed. Boulder, CO: Westview Press, 2007.
SOLAGNA, Fabrício. 30 anos de governança da Internet no Brasil: coalizões e ideias em disputa pela rede. Tese. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. 2020.
TIZIANI, Giovana. Coalizões de advocacia na política de regulação do ambiente digital no brasil de 1999 a 2023. Dissertação (mestrado). Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Fundação Getúlio Vargas (FGV). 2024.
WEIBLE, Christopher M.; SABATIER, Paul A.; McQUEEN, K. Themes and Variations: Taking stock of the Advocacy Coalition Framework. The Policy Studies Journal, v. 37, n. 1, p. 121-140, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x.
1 Resoluções 23.551/ 2017 e 23.610/ 2019 trataram sobre a remoção de conteúdos. Porém, a partir da resolução 23.714/2022, a Corte eleitoral passou a contar com o mecanismo de atuação de ofício, o que garantiu maior celeridade e efetividade na remoção de conteúdos falsos e de desinformação.
2 O discurso integral do Presidente Lula no Forum Internacional de Software Livre pode ser visto em: https://www.youtube.com/watch?v=JqULQ5Yv3vw (trecho a partir de 2’06”). Acesso em 21/02/2024
4Ressaltamos nominalmente apenas alguns atores que foram identificados na análise. Pontuamos, porém, que a relação apresentada não encerra o retrato daqueles que influenciaram e articularam a aprovação citada.