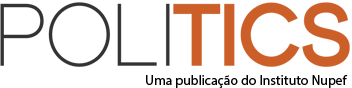As plataformas e a normalização da escrotice

Rafael Evangelista, Professor de pós-graduação em Divulgação Científica e Cultural e membro do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, Unicamp.
Data da publicação: abril 2020
No cerne dos nossos serviços de dados está o Behavioural Microtargeting, nossa metodologia de análise e engajamento que segmenta os públicos-alvo com base em atributos psicográficos para influenciar o comportamento em nível individual.
– “Quem Somos”, do folheto promocional para o Brasil do SCL Group, matriz da Cambridge Analytica, fechado em maio de 2018.
Publiquei recentemente, junto com minha amiga e pesquisadora Fernanda Bruno, um artigo voltado especialmente ao público internacional sobre o processo que levou ao resultado das eleições brasileiras de 2018. O texto é fruto de uma angústia com o resultado das eleições, reflexo de uma ânsia em mostrar, para nós mesmos e para os outros, que não somos assim. Ou pelo menos não éramos, não vínhamos sendo, estávamos caminhando a passos consistentes para deixarmos de ser uma sociedade que, ou é abertamente racista, homofóbica e de um moralismo conservador, ou encontra fórmulas elaboradas, como chamar-se de “democracia racial”, para negar suas complexas fórmulas de excluir, ainda que se afirmando “diferente”.
Pode-se apontar que isso sempre esteve lá, que nunca acertamos as contas com o fascismo brasileiro, como bem diz Vladimir Safatle (2020), mas não é tarefa simples demonstrar o intricado processo que levou à emergência de formas tão explícitas de manifestação neofascista. Expressões agressivas que não só garantem a popularidade persistente com um terço do eleitorado mesmo após um ano de governo, como são ativamente normalizadas ou varridas para debaixo do tapete por parte consistente dos formadores de opinião (ainda existe essa expressão?) brasileiros. Perdeu-se a vergonha de ser escroto.
Certamente há razões que vão além do campo comunicacional que ajudam a explicar o processo. A eleição de Donald Trump não pode ser atribuída apenas à já bem demonstrada capacidade da Cambridge Analytica em usar o microdirecionamento de mensagens políticas no Facebook. Sem dúvida a desilusão econômica de uma classe média que sofre as consequências da desindustrialização do país teve um papel importante. Da mesma forma, a crise econômica que se agrava desde 2015 no Brasil ajudou na desilusão com a política tradicional, além de mudanças significativas no perfil da classe trabalhadora brasileira, cada vez mais distante do trabalho formal e sindicalizado.
Contudo, essas mudanças infraestruturais sozinhas não explicam a radicalização neofascista. Elas oferecem uma base material, uma experiência dessaborosa vivida, mas que acabou significada em uma direção que não necessariamente precisava ser aquela. Tudo indica que o resultado final foi fruto de uma tentativa desastrada da centro-direita de retomar o controle do país, que acabou entregue aos eventuais aliados radicais. O saldo é de desastre completo para as populações historicamente mais marginalizadas, embaraço internacional para as elites intelectuais “civilizadas” e lucros indecentes para o capitalismo financeiro, extrativista e exploratório.
Mas como esse processo sai do controle? A poucos meses das eleições de 2018, quase ninguém apostava que Geraldo Alckmin, candidato com mais tempo de TV e concorrente pelo partido historicamente rival daquele que vinha sendo associado diuturnamente pela mídia aos escândalos da Lava-Jato e à crise econômica, pudesse ter um desempenho tão pífio. Que mecanismos de circulação de sentidos deixam de funcionar como esperado, de modo a que boa parte da população embarque na ideia de que os rivais históricos PT e PSDB são farinha do mesmo saco, com direito a uma versão delirante de que seriam cúmplices em um complô para se alternarem no poder? Algum freio precisou ser removido para que oposições políticas históricas não fizessem mais sentido e que a resposta ao PT não pudesse ser “moderada” (seja com Ciro Gomes pela centro-esquerda ou Alckmin pela centro-direita), mas extrema ao ponto de se admitir alguém discriminador, intolerante e violento como Bolsonaro.
O fato é que o ambiente informacional mudou e se tornou um território cada vez mais difícil de se navegar, para o público e para os pesquisadores. Nem todas as transformações são diretamente ligadas às novas tecnologias de informação e comunicação, embora haja certa relação derivada. A radiodifusão, por sua própria dinâmica ou para sobreviver à nova realidade, tornou-se muito mais sensacionalista e predatório. O dial da faixa de FM está infestado de frequências alugadas ao jabá e a igrejas, ou que exploram o sensacionalismo sem freios, seja da exploração da violência ou da política. O mesmo vale para a TV, à qual deve ser somada a falta de incentivo e o uso político dos canais educativos.
Mas o grande elemento novo é de fato a Internet. Saudamos, muito corretamente, a pluralidade de canais proporcionada pela novidade e a emergência de uma cultura de nicho, que prometia uma diversidade cultural enorme, derivada de um contato mais direto e amplo entre comunicadores e artistas. Deixamos de lado, contudo, dois complicadores. Essa diversidade necessariamente leva também a um distanciamento, em termos de imaginário comum, entre segmentos diversos da população. Se todos vemos basicamente o mesmo punhado de novelas e telejornais temos relativamente um campo informacional comum, seja para embarcar nele ou para criticá-lo. Do contrário, temos as famosas bolhas, ou seja, cada nicho acaba constituindo a sua própria realidade. Ainda que as bolhas não sejam exatamente herméticas – ninguém aguenta só viver entre seus pares: o outro, o diferente, eventualmente inimigo é necessário para que constituamos a nós mesmos nessa alteridade; elas são microcosmos simbolicamente autossuficientes, constituindo suas próprias fontes de legitimação e autoridade.
O segundo complicador era realmente mais difícil de antever e de certa forma oferece a base material, arquitetural, para que o fenômeno ganhe a dimensão que ganhou. A internet é hoje governada pelas empresas do capitalismo de vigilância (Zuboff, 2019; Evangelista, 2019). Seu modelo de negócios consiste em basicamente reter a audiência (os olhos e ouvidos) e o trabalho dos usuários (os dedos que dedilham freneticamente o teclado e clicam nos coraçõeszinhos; as vozes e rostos que narram as próprias vidas e todo resto; as pernas que vão pra lá e cá caçando pokémons e bons restaurantes). Recolhendo, armazenando e analisando esses rastros digitais, as empresas realizam operações de previsão e mudança de comportamento nos mesmos usuários, em benefício próprio ou a soldo das campanhas de marketing. Para o uso máximo desses “recursos” – a vida dos usuários –, elas adotam algoritmos, que com a justificativa de facilitarem a navegação e a tornarem mais atrativa, regulam em grande parte a que o usuário é exposto na Web.
As recomendações do YouTube
Um dos melhores exemplos é o YouTube, que se tornou celeiro de radicalismos e teorias da conspiração. O algoritmo de recomendação, que já é responsável por 70% do tráfego na plataforma, busca o engajamento, a visualização incessante e a reação ao conteúdo. Quanto mais engajamento, mais anúncios são exibidos e mais os produtores são recompensados, o que é bom para a plataforma e uma fórmula de sucesso para quem vive do conteúdo postado lá. Uma das estratégias empregadas pelos algoritmos para aumentar as visualizações é sugerir algo progressivamente mais radical ou provocativo. É assim que o sistema sugere que determinado usuário que gosta de aulas online de guitarra possa se interessar pelos vídeos de um controverso professor do instrumento que fala de política e heavy metal.
Estudando os canais da direita alternativa estadunidense, a chamada alt-right, a pesquisadora do Instituto Data & Society, Rebecca Lewis, descobriu algumas estratégias utilizadas por esse grupo político radical para impulsionar coletivamente as visualizações no YouTube. Membros mais radicais e outros que se passam por mais moderados trocam participações em diversas produções, o que ajuda na popularização de todos e puxa a audiência de um para outro. Ainda que tenham discordâncias pontuais, todos contribuem para a popularização do mesmo campo político extremo. A estratégia aproveita características do algoritmo de recomendações para exponencializar seu efeito.
Algo semelhante foi descoberto por pesquisadores brasileiros, do grupo dos professores de computação da UFMG, Virgilio Almeida e Wagner Meira Jr. Em estudo sobre a extrema-direita estadunidense, eles demonstraram como espectadores de canais conservadores mais tradicionais acabaram migrando para canais que defendem a supremacia branca. Em outro trabalho, dessa vez focalizando o YouTube brasileiro durante as eleições, eles pesquisaram 55 canais de política, de todos os espectros ideológicos. Encontraram mensagens de ódio e de tom conspiratório mais associadas aos vídeos da extrema-direita, justamente os que tiveram maior exposição durante o período eleitoral.
A empresa de análise de dados Novelo (Ghedin, 2019) analisou mais de 17 mil classificações de vídeos “em alta”, destacados pelo YouTube, no último semestre de 2018. Os critérios para que um vídeo apareça nessa lista não são exatamente claros, mas a plataforma diz que se misturam critérios objetivos, como número de visualizações e crescimento de visualizações, com critérios qualitativos determinados por sistemas de propriedade da plataforma, como serem surpreendentes ou interessantemente diferentes. A Novelo descobriu atores não usuais pipocando nessa lista, canais de extrema-direita e de fake news, como Folha Política, Giro de Notícias e Mega Canais 2.0, indo de quase zero aparições na classificação em julho para uma explosão no mês anterior às eleições.
A caixa-preta do WhatsApp
Desde a greve dos caminhoneiros de 2018 venho acompanhando etnograficamente a plataforma que foi a grande controvérsia dessas eleições, o WhatsApp. Com isso quero dizer que penetro nos grupos de política da direita e fico lendo silenciosamente o fluxo de mensagens, vídeos e memes por tanto tempo quanto meu estômago aguenta. Foi esse trabalho de campo que deu suporte a parte das observações do artigo que cito no começo desse texto. O WhatsApp é importante porque talvez seja a melhor representação que temos hoje de um contexto de desorganização e desagregação informacional e simbólica que é dificílimo de se analisar e combater.
Muita gente tem feito um heroico trabalho de garimpagem de dados, que nos oferece um panorama quantitativo e macro do que acontece nos grupos abertos de política. Talvez o melhor exemplo venha do grupo da UFMG já citado (Resende et al., 2019), que descobriu uma estrutura coordenada de ação nos grupos, esquema que é invisível ao membro inocente e orgânico, mas que capitaneia o fluxo de conteúdos. Essa análise é completamente consistente com diversas informações jornalísticas que foram divulgadas ainda antes das eleições, reportagens que dão conta de um esquema profissional de envio de mensagens e micro-direcionamento político tendo como alvo o WhatsApp.
O WhatsApp é um aplicativo de mensagens em que a função “grupos” lhe dá características de mídia social, e que foi empregado como arma política na últimas eleições. A isso soma-se o famigerado zero-rating das empresas de telefonia brasileiras (Ramos, 2015). Os planos de dados vendidos especialmente à população mais pobre oferecem navegação de dados gratuita ilimitada a certos aplicativos e redes sociais. Junto com o Facebook, o WhatsApp é o aplicativo mais popular no país. O agravante é que as mensagens que chegam por ele são recebidas como mais “íntimas” ou mais familiares do que as de outras redes. O ambiente do aplicativo não simula um lugar público, mas um lugar protegido, reservado, criptografado. Mesmo que se esteja em um grupo de entrada livre, aquele é um espaço administrado e exclusivo aos participantes, que funciona no mesmo ambiente em que mensagens são trocadas entre familiares e amigos (Cesarino, 2019).
Uma espiada em qualquer fila de supermercado, sala de espera ou ponto de ônibus vai encontrar pessoas com o rosto enterrado na tela do celular, muito provavelmente acompanhando bate-papos de WhatsApp sobre os mais variados assuntos. Os grupos acabam funcionando como minicanais de distribuição de mídia, com uma curadoria de conteúdos feita pelos participantes e gerenciada pelos administradores. No caso dos grupos da extrema-direita investigados, a maior parte dos conteúdos curados parece vir da organização montada para vencer as eleições. Tudo indica, inclusive, que vários canais da extrema-direita que vieram a bombar no YouTube na véspera da eleição foram impulsionados por um intenso compartilhamento nesses grupos. Uma combinação peculiar entre tentativas de radicalização política e caça-cliques para vídeos monetizados.
Os bate-papos do WhatsApp como canais de mídia não são um fenômeno exatamente novo. Quatro anos atrás se descobria o “mundo subterrâneo do conteúdo” (Wiedemann, 2016), grupos temáticos em que as pessoas pagavam para participar e nos quais recebiam os mais diversos conteúdos com curadoria profissionalizada. Pagos ou gratuitos, esses canais ainda existem e são parte muito relevante da dieta informacional do brasileiro médio.
Qual o papel do consumo dessas novas mídias na radicalização do eleitorado brasileiro que elegeu um governo de extrema-direita nas últimas eleições? Socialmente, o Brasil está ficando mais fragmentado, mais propenso a abrigar grupos sociais que constroem realidades informacionais paralelas, irreconciliáveis e paranoicas? Se transformações econômicas, como a precarização, e sociais, como o crescimento do neopentecostalismo, pesam como motor de mudanças simbólicas, os novos canais de informação, governados por algoritmos e por plataformas do capitalismo de vigilância, são os meios pelas quais elas se concretizam. Entender essas arquiteturas de transmissão e a diversidade no consumo de informação é tarefa tão relevante quanto refletir sobre as realidades econômicas, urbanas e do mundo do trabalho da população.
Referências
Cesarino, L. 2019. “Populismo digital, neoliberalismo e pós-verdade”: https://www.academia.edu/40047992/Populismo_digital_neoliberalismo_e_p%C... (acesso em 23 jan. 2020).
Evangelista, R. 2019. “Review of Zuboff’s The Age of Surveillance Capitalism”. Surveillance & Society, v. 17, n. 1/2, p. 246–251.
Ghedin, R. 2019. “Algoritmo do YouTube impulsionou canais de extrema-direita nas eleições de 2018”: https://manualdousuario.net/youtube-em-alta-extrema-direita (acesso em 23 jan. 2020).
Lewis, R. 2018. Alternative Influence: Broadcasting the Reactionary Right on Youtube. Data & Society: https://datasociety.net/output/alternative-influence (acesso em 7 ago. 2019).
Ottoni, R. et al. 2018. “Analyzing Right-wing YouTube Channels: Hate, Violence and Discrimination”. Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science - WebSci ’18, p. 323-332.
Ramos, P.H.S., 2015. “Zero-rating: uma introdução ao debate”. PoliTICs nº 21, Rio de Janeiro, Instituto Nupef: https://politics.org.br/edicoes/zero-rating-uma-introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-...
Resende, G. et al. 2019. “(Mis)Information Dissemination in WhatsApp: Gathering, Analyzing and Countermeasures”. WWW '19: The World Wide Web Conference, San Francisco, EUA. Association for Computing Machinery: https://doi.org/10.1145/3308558.3313688 (acesso em 23 jan. 2020)
Safatle, V. 2020. “Um fantasma assombra o Brasil”, Folha Ilustrada, 19-jan-2020: https://www1.folha.uol.com.br/amp/ilustrada/2020/01/um-fantasma-assombra... (acesso em 23 jan. 2020).
Tunes, S. 2019. “Algoritmos parciais”. Revista Pesquisa Fapesp: https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/11/15/algoritmos-parciais (acesso em 23 jan. 2020).
Wiedemann, E. 2016. “O Whatsapp, a ‘classe média’ e o mundo underground do conteúdo”: https://medium.youpix.com.br/o-whatsapp-a-classe-m%C3%A9dia-e-o-mundo-un... (acesso em 23 jan. 2020).
Zuboff, S. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Edição: 1 ed. [s.l.] PublicAffairs.