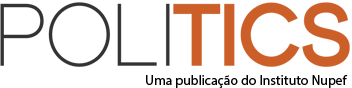Resistência ou rendição - na roda-viva de arrocho do direito autoral, quem quer ter acesso à cultura resiste. Ou se rende

Guilherme Varella, advogado, gestor cultural e atua como advogado do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) na área de direitos autorais e acesso à cultura e ao conhecimento
Data da publicação: abril 2011
Pensemos sobre o cenário para aqueles que desejam ter acesso à cultura no Brasil. Mais ainda, para aqueles que incorporaram o significado da famigerada cultura digital, entre aspas, para a efetivação desse direito. Nesse cenário, devemos refletir sobre o papel do Estado na sua função prestacional, que a Constituição determina - e para o qual agora o Plano Nacional de Cultura (PNC) mostra o caminho das pedras - para garantir, de forma ativa, esse acesso.
Para tanto, é essencial analisarmos o que ocorre na atual conjuntura política brasileira, especificamente no Bloco B da Esplanada dos Ministérios, cujas ações batem e voltam em toda a terra brasilis. Lá, a tal cultura digital, entre aspas, parece não combinar muito com acesso à cultura e com a função prestacional do Estado no cumprimento do art. 215 da Constituição Federal.
Pensemos, então, nos indivíduos, que precisam ser beneficiados pela ação do Estado, de maneira a potencializar os seus meios de acesso à cultura. A isso se dá o nome política pública de cultura. Cultura produzida ora por seus criadores formais, de forma profissional e visceral, que, nessa função, recebem o nome de artistas (ou autores); quando não, produzida cotidianamente pelos indivíduos, que, em tal labuta involuntária diária, recebem o nome de cidadãos e cidadãs.
Como vivemos em uma sociedade capitalista, em que quase tudo é veiculado por meio de produtos e serviços, é também através do consumo que esses cidadãos e cidadãs acessam a cultura – pelo consumo de bens simbólicos, dentro de uma economia da cultura, como se convencionou chamá-la. Nesse contexto, esses cidadãos e cidadãs, que também produzem cultura, recebem o nome de consumidores. Consumidores de cultura.
Consumidores, cidadãs e cidadãos, cujo direito à informação, à educação, à comunicação passa pelo direito dos autores de terem suas obras protegidas e seu ofício circunstancial de produtor de cultura, reconhecido. Ao Estado, em sua função executiva, cabe agir para consolidar de forma integral e simbiótica esses direitos. Ao Estado, cumpre atuar em seu papel legislativo para implementar leis que assegurem tais garantias – ou, de forma reativa, revisar legislações que não condizem com os anseios sociais e aumentam o abismo entre o direito posto e o pressuposto, nas palavras do professor Eros Grau.
Porém, muitas vezes, o mercado - já que vivemos em uma sociedade capitalista - traz distorções a essa dinâmica sociojurídica, interferindo tanto na função do Estado de garantir de forma isonômica o acesso à cultura, quanto na sua função de proteger os autores e artistas. Muitas vezes, o Estado passa a atentar mais ao mercado, ou a quem o representa. Ou, ainda, a quem, em tese, representa nesse mercado os interesses eminentemente privados dos autores, que não são tão privados assim, já que tais interesses - de comercialização e circulação das obras produzidas - coincidem ou complementam o interesse público de acesso a elas, por exemplo, através do consumo.
Nessa dinâmica, a questão dos direitos autorais é central. Ela abarca toda essa relação estabelecida entre consumidores e artistas, amplia ou restringe o alcance de políticas públicas e traz maiores ou menores possibilidades de acesso à cultura. A lei brasileira de direitos autorais (Lei 9.610/98) passa por um importante processo de reforma com o intuito de tornar-se ferramental significativo para a efetivação de direitos complementares e para a consagração do interesse público.
Para além disso, a revisão da LDA, como é chamada a lei autoral, nada mais é que o resultado de uma demanda social pulsante por acesso à cultura de forma legítima, por todos os estratos da população. Anacrônica, a Lei 9.610/98 vige em dissonância com essa demanda e com a realidade brasileira. Realidade socioeconômica, caracterizada pela amputação dos consumidores do mercado de serviços e produtos culturais, caros para os padrões tupiniquins. Realidade jurídica, de marginalização da grande maioria da população, que cotidianamente encontra meios de acessar os bens culturais, como alternativa ao mercado segregador, à ineficiência do Estado na promoção das políticas públicas e à ineficácia da legislação que pretensamente protege os criadores e suas obras.
A cultura digital, em sua essência e alcance, reforça essa dinâmica. Por valorizar a interação, o compartilhamento, o componente simbólico, e não meramente material dos bens culturais, e especialmente por valorizar a criação colaborativa, que é a mola propulsora dos fenômenos culturais, a cultura digital acentua a necessidade de políticas públicas específicas para o segmento, aliadas à proteção da liberdade dos cidadãos na internet, em resposta à ação restritiva e cerceadora do mercado.
Nesse quadro, contudo, o que observamos muitas vezes é uma ação estatal que corrobora a conduta de atores do mercado ou de pretensos representantes de autores, em sentido contrário ao da concretização do direito à cultura, em suas dimensões simbólica, econômica e cidadã. Em muitos casos, desobedece aos próprios princípios que norteiam a Administração Pública, como o da transparência, veracidade e supremacia do interesse público, este, seu preceito maior, muitas vezes perdido no obscurantismo dos interesses setoriais do campo autoral.
Quando isso ocorre, o que resta à população, ideal objeto do respaldo legislativo e das políticas públicas, posta na marginalidade cultural, é a resistência pelos meios que as novas tecnologias e as mais diversas trocas sociais ditam e determinam.
CIRANDA ANTIPIRATARIA
Nesse quadro de marginalização cultural e legislação autoral falha, a pergunta que nos motiva é: a quem interessa segregar indivíduos do processo de produção e consumo cultural? De uma forma mais específica, a quem beneficia a situação de impasse entre autores descobertos e consumidores rotulados de “piratas” ou “foras da lei” na atual configuração do mercado? Neste, onde se coloca o Estado, que é responsável por regular todos os segmentos estratégicos para o desenvolvimento do país?
Comecemos pela última questão, reformulada: no esquema tático dos jogadores em campo, em que posição joga o Estado? Suas ações - no Brasil, via Ministério da Cultura, da Justiça e demais órgãos – vêm beneficiando a quem?
Na trilha por respostas que contemplem a indagação, mas que principalmente tragam exemplos concretos de como essa dinâmica tem se concretizado, vamos passear por um roteiro virtual: fazer uma visita guiada por sites de programas e ações específicos, direta ou indiretamente ligados ao poder público. Vamos ver sites diretamente relacionados ao combate a condutas cotidianas da população, tais como fazer cópia privada de músicas e filmes para consumo próprio; trocas de arquivos para seu próprio abastecimento cultural, sem fins lucrativos; uso da internet para substituir o mercado cultural inalcançável, devido aos seus altos custos ao consumidor brasileiro. Na rota, ficaremos sabendo como é a movimentação desse jogo e, nele, quem ataca e quem defende.
Partamos do maior para o menor grau de institucionalidade: o Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP).1 Depois da seção “Cidadania”, este é o segundo item de destaque no site do Ministério da Justiça, a quem cabe a sua presidência. É formado por outros órgãos do governo – Ministérios da Cultura, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Renda, Fazenda – pela Polícia Federal, Câmara e Senado. O CNCP é porém, um comitê misto: em sua composição, há conselheiros advindos da iniciativa privada, a saber: do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO); da Confederação Nacional da Indústria (CNI);da Confederação Nacional do Comércio (CNC); do Grupo de Proteção a Marcas (BPG);da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES); da Motion Pictures Association of America (MPA); da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD).
Trata-se de um órgão colegiado gerido pelo poder público, através do Ministério da Justiça, com participação direta do Ministério da Cultura (MinC). É a instância que executa as políticas para a área. Entrando no site do CNCP, a primeira notícia que se lê é: “Centro Comercial de São Paulo é alvo de combate à pirataria”.2 Lemos a notícia e chegamos ao alvo da apreensão: “60 sacos de produtos ilegais em posse de mais de 40 clientes, entre relógios, óculos, bolsas, tênis e equipamentos eletrônicos sem notas fiscais?”
É importante ressaltarmos que, segundo o artigo 61 do Acordo TRIPS, vigente no Brasil, “pirataria” é a violação de direitos autorais, como o uso não autorizado das criações, em desrespeito à Lei 9.610/98. À falsificação de marcas, como de produtos como relógios, bolsas, tênis e equipamentos eletrônicos, segundo o TRIPS, dá-se o nome de “contrafação”. São dois conceitos jurídicos distintos, que mesmo a LDA define de maneira diferente - mas, no caso em tela, a ação do Estado considera como iguais, tendo sua publicidade veiculada de maneira enganosa, com informações equivocadas. O CNCP apreendeu produtos contrafeitos, e não piratas. Mas a população recebeu a notícia de que o Estado atuou firmemente contra a “pirataria”.
Este tipo de notícia serve a qual interesse? Público? Para responder à questão, basta clicar na página web de mais um integrante do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, a Associação Brasileira dos Produtores de Discos – ABPD. A ABPD, em sua página inicial, destaca, entre as notícias, não os serviços de seus associados, mas matérias sobre apreensão de produtos “piratas”.
Vamos nos manter, contudo, focados em seus “associados”. Das dez organizações associadas à ABPD, seis são empresas multinacionais, sediadas fora do Brasil. Destas, três fazem parte dos mesmos grupos que compõem a Motion Pictures Association: Sony, Warner e Universal. Quando se somam à Buena Vista International, Paramount Pictures e Twentieh Century Fox formam a “associação que representa os seis principais estúdios de cinema dos Estados Unidos”. Em seu site3, explicitam a que vieram e a mando de quem: “A MPA é membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (órgão ligado ao Ministério da Justiça) e defende os interesses de suas empresas afiliadas em cada setor de distribuição”.
Não bastasse serem membros do órgão colegiado mantido com dinheiro público, essas duas organizações se uniram para formar a Associação Antipirataria Cinema e Música (APCM). Este novo “front” da indústria tem o objetivo de combater a pirataria , atuando “junto às autoridades policiais, governamentais e acompanhar os processos judiciais em todo o território nacional”.4 Ao lado dessa descrição, no site, aparecem as demais organizações componentes ou apoiadoras: o próprio CNCP, a International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) e a União Brasileira de Vídeo (UBV). Clicamos nesta.
Na parte inferior da página da UBV estão todas as suas marcas associadas (a maioria, ligada à MPA e ABPD). Lá, há um item que diz “combate à pirataria”. Clicando nele, temos acesso às várias formas de a população se conscientizar a respeito desse “problema social”, como cartilhas, números para contato e vídeos. Resolvemos clicar em um dos vídeos, intitulado: “Patrocinados pelo crime”.5
A peça mostra uma mãe que coloca um filme “pirata”, comprado ilegalmente – mas que poderia muito bem ter sido gravado em casa, em uma mídia adquirida na loja, como possibilita a tecnologia digital -, para assistir com a filha, uma criança. Aparecem homens armados e encapuzados, portando armas, num cenário que ambienta o tráfico em um morro. Eles dizem: “Obrigado por ter ajudado nóis a comprar os armamento novo, aê! Valeu, tia!”. E complementam: “Uma salva de tiros aí pra tia!”. E atiram para o alto, enquanto uma voz em off entra para encerrar: “Comprar DVD pirata é patrocinar o crime”.
O filme da UBV traz informações técnicas equivocadas, pois confunde “pirataria”, não mais com “contrafação”, como fez o CNCP, do MJ, mas com tráfico de armas e crime organizado. Além disso, tem um caráter moralizante de cunho coercitivo, ligando a conduta de comprar um filme “pirata” ao status de traficar armas ou financiar organizações criminosas. Além disso, explora o medo dos indivíduos e é extremamente apelativo, pois usa a imagem da criança, frágil e inocente, que não entende a situação e fica extremamente assustada com o ato da “mãe fora-da-lei”.
Porém, a campanha antipirataria não para por aí e se expande por outros braços institucionais. Chegamos a um deles clicando, na própria página da UBV, no ícone da FNCP: Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade. O primeiro contato com o site vem através de uma janela dinâmica (pop-up), com layout em movimento, que traz os seguintes dizeres: “Produto pirata traz malefícios à saúde do consumidor”; “Pirataria rouba empregos”; “Pirataria financia o crime organizado”, e “Pirataria impede o crescimento da indústria nacional”. A essas mensagens se intercalam imagens de armas, policiais, mendigos, prédios abandonados, bonecas inteiras e bonecas despedaçadas.
Com essa ação, a ideia do FNCP é responsabilizar o consumidor pelos malefícios da “pirataria” sem, no entanto, fundamentar quais são esses malefícios. Fala-se em perda de emprego, crime organizado, tráfico, crise econômica, prejuízos à saúde, porém nenhum dado constata a veracidade dessas alegações. O estudo publicado recentemente, denominado Media Piracy in Emerging Economies6, questiona justamente as fontes que subsidiam a indústria fonográfica na cruzada antipirataria. Este trabalho, que tem mais de oitenta páginas dedicadas ao mercado brasileiro, constatou que a grande razão para a aquisição de produtos ilegais é o alto preço dos produtos legalizados, padronizados internacionalmente por essa indústria.
A propaganda da FNCP, portanto, apela mais uma vez à moralidade e à distorção de conceitos técnicos e de informações oferecidas aos consumidores. Quando explora indevidamente o risco à segurança do consumidor que adquire o produto “pirata”, sem contudo justificar onde está o risco, incorre em publicidade abusiva. Quando falseia informações essenciais pratica publicidade enganosa. Tal propaganda afronta diretamente o art. 37, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Essa campanha, ainda que condenável, parte da iniciativa privada, dos fornecedores ou de seus representantes, sendo conduta infelizmente costumeira no mercado, passível de ser questionada na esfera judicial. Alguns setores empresariais de fato não possuem qualquer responsabilidade social. Porém, no próprio site do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, são encontrados os logotipos de seus parceiros institucionais, dentre os quais se encontram, além do já conhecido CNCP: Receita Federal, Ministério da Justiça, Inmetro, Anvisa, e, pasmemos, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Ou seja, o Estado assina embaixo de campanhas mentirosas, moralizantes e criminalizantes relacionadas à proteção dos direitos autorais. Inaceitável.
Enfim, todas essas campanhas institucionais são lideradas por organizações que, direta ou indiretamente, têm ditado programas e políticas públicas na área de acesso à cultura. De alguma forma, esses entes têm influenciado a atuação do Estado nesse setor. Algumas dessas organizações, declaradamente voltadas à proteção dos interesses comerciais de seus afiliados, têm tido mais voz nas ações estatais que outras organizações, voltadas à realização da cidadania, como, por exemplo, entidades de defesa do consumidor.
Fica evidente que, a despeito da supremacia do interesse público, o Estado tem atuado de forma articulada com o interesse privado, agindo contra seu próprio papel institucional de garantir a proteção das criações em consonância com a defesa do consumidor e com o direito constitucional à cultura. Quando vários ministérios importantes, agências reguladoras e até o Poder Judiciário se colocam como soldados aguerridos da cruzada antipirataria, atendem mais aos interesses dos intermediários da cadeia cultural do que aos dos próprios autores. Contribuem mais para a monopolização do mercado cultural do que para a democratização do consumo de cultura. Aos cidadãos e cidadãs, que não têm dinheiro, mas têm interesse em cultura quando confrontados em suas vidas cotidianas com o discurso antipirataria, resta resistir ou se render.
MINC MAIS PRA LÁ DO QUE PRA CÁ
A sociedade se vê acuada pelas ações e pelo discurso da indústria cultural. Há um movimento internacional pela “harmonização” das legislações autorais, no sentido de recrudescer as possibilidades de livre utilização das obras, com austeridade à proteção dos autores. A própria Motion Pictures Association, membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça, com apoio institucional do Ministério de Comércio Exterior dos Estados Unidos e com a benção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), articula a pressão internacional sobre os governos por leis e políticas menos flexíveis de direitos autorais.
Tal pressão surtiu efeito em vários países. A Espanha recentemente aprovou a Lei Sinde, que permite o bloqueio de sites suspeitos de compartilharem arquivos na internet. A medida segue as diretrizes da Lei Hadopi, francesa, vigente desde 2010, que igualmente criminaliza as trocas peer-to-peer (p2p).
Esse movimento se concretiza internacionalmente com o estabelecimento fático do ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), tratado negociado por EUA, União Européia e outros países, em fóruns fechados, sem a participação da sociedade civil, com o intuito de aumentar a cooperação internacional no combate à “pirataria”. Suas disposições têm o objetivo de interferir normativamente na dinâmica de trocas informativas na internet e devem afetar diretamente direitos individuais, como a privacidade, a liberdade e a intimidade na rede. Tudo sob o pretexto de garantir maior proteção aos autores.
O Brasil seguiu caminho diferente nos últimos anos. O Ministério da Cultura vinha adotando uma postura equilibrada entre a proteção dos autores e a busca do interesse público na utilização dos bens culturais. Promoveu durante seis anos intenso debate público sobre a necessidade de reforma da Lei 9.610/98 e teve maciça adesão da sociedade na discussão, especialmente nas contribuições ao anteprojeto de lei de reforma da legislação. O novo texto proposto era extremamente avançado, deixando de criminalizar condutas cotidianas dos consumidores e adaptando os dispositivos legais às possibilidades digitais de acesso, trazidas pelas novas tecnologias e catalisadas pela internet.
O país ocupou papel protagonista nos fóruns internacionais, justamente por encampar a bandeira da compatibilização de direitos fundamentais, como direitos do autor e direito à educação, cultura, informação. Internamente, o MinC propôs o diálogo com os mais diversos movimentos – de democratização do conhecimento e da comunicação, com professores e estudantes, com artistas, autores e empresários culturais, com organizações de pessoas com deficiência e de consumidores.
Nesse processo, ganhou força o movimento pela cultura digital, entendida como uma nova realidade de produção, promoção, circulação e fruição da cultura. Essa nova frente de democratização cultural já havia sido contemplada como política pública pelo Ministério, que designou inclusive uma diretoria específica para o tema. Com a reforma da LDA, a cultura digital passaria a ser contemplada, como uma nova possibilidade para autores e consumidores da cultura, saindo do limbo de marginalização em que a lei atual a coloca.
Porém, no ano de 2011, a nova gestão do MinC alterou sua visão sobre esse processo e passou a dar mostras de alinhamento com a agenda internacional ditada por aqueles que movimentam a ciranda antipirataria. A primeira manifestação da Ministra Ana de Hollanda foi a retirada do selo Creative Commons (CC) do site do Ministério. A licença CC autoriza, de antemão, determinados usos de obras protegidas pelo direito autoral, como textos, artigos, fotos e dados presentes no site. A alegação para a supressão foi a de que uma “marca” de uma empresa com fins lucrativos, uma “entidade privada”, não poderia ficar na página de um órgão público, fazendo “propaganda”, sem qualquer tipo de “licitação”.7
Tal medida trouxe repercussão imediata nos meios digitais e gerou grande insatisfação nos coletivos e organizações que reivindicam a internet como espaço de diálogo e acesso à cultura, principalmente pela flagrante falta de conhecimento a respeito do tema pelo Ministério.
A ação seguinte do MinC foi a demissão do Diretor de Direitos Intelectuais que conduziu todo o processo de reforma e as negociações nacionais e internacionais sobre o tema. Foi nomeada para o cargo uma advogada ligada historicamente ao Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais (ECAD), associação coletora de direitos autorais que não sofre qualquer tipo de supervisão pública e uma das principais lideranças no movimento contrário à revisão da LDA.
Não bastasse, antes de completados cem dias de gestão, a Ministra reuniu-se com o Secretário do Comércio Exterior dos Estados Unidos, em Brasília, para tratar justamente da situação dos direitos autorais no país. No nosso país. De acordo com a Ministra, o Secretário “estava muito preocupado com a questão da liberação dos direitos. De como a flexibilização no direito autoral pode acarretar mais tolerância com a pirataria”.8
A sinalização de apoio à nova postura do MinC é clara por parte dos representantes da indústria. O último relatório da International Intellectual Property Alliance – IIPA (Aliança Internacional de Propriedade Intelectual), intitulado Special 3019, que traz o cenário da proteção da propriedade intelectual em vários países do mundo, criticou veementemente o processo de revisão da Lei de Direito Autoral em andamento no país. Criticou também o projeto do Marco Civil da Internet, que disciplina os direitos e responsabilidade na rede, com base nos princípios da liberdade, neutralidade e privacidade.
A atitude do Ministério, alinhada com a posição da indústria, foi reabrir o processo de discussão sobre a reforma da LDA, com o argumento de que é necessário ouvir mais os “artistas” e “especialistas” no assunto. Até agora não foi disponibilizado pelo MinC o relatório que compila as contribuições da sociedade à consulta pública de 2010, assimiladas ou não no texto final. Além disso não há previsão para o envio do projeto de lei para o debate e votação no Congresso Nacional.
No Congresso, aliás, retomou-se a onda de recrudescimento do direito autoral. Foi reaberta a discussão do Projeto de Lei 84/99, a chamada Lei Azeredo. O PL prevê o monitoramento dos usuários pelos provedores de internet e a permissão para
que cortem sua conexão em caso de conduta suspeita de violação de direitos autorais. A linha é a mesma das leis da França e da Espanha, prevendo a intervenção direta na esfera individual dos consumidores. Por aqui, o movimento de cultura digital batizou o PL de AI-5 Digital, em referência ao famigerado ato institucional da ditadura militar, que cassou direitos civis e políticos, em 1968.
Em suma, a atual conjuntura política brasileira é preocupante no que toca à atuação do Estado na formulação de leis e políticas para o acesso à cultura. O posicionamento dos órgãos afetos ao tema, de forma positiva, como o MinC na formulação das políticas, ou negativamente, como o Ministério da Justiça no apoio à campanha criminalizante antipirataria, tem na maioria das vezes servido mais à extremada proteção das obras, para fins mercadológicos, do que propriamente ao interesse público, para sua democratização. No que diz respeito à cultura digital, a aura de marginalização permanece, como se a internet prestasse um desserviço à cultura brasileira, quando, ao contrário, é hoje o grande espaço de trocas simbólicas e potencial plataforma para uma moderna economia da cultura.
RESISTÊNCIA OU RENDIÇÃO
Por fim, o cenário para aqueles que desejam ter acesso à cultura no Brasil, e mais ainda, para aqueles que incorporaram o significado da famigerada cultura digital não é dos melhores. Num país com altos índices de analfabetismo e poucos aparelhos culturais, num país que restringe o consumo de produtos e serviços culturais às classes mais abastadas, a internet deve servir como instrumento para políticas públicas de acesso. Na dinâmica da cultura digital, que reorganiza os padrões de circulação e consumo de bens culturais, qualquer legislação que vise à proteção das obras produzidas deve considerar essas novas potencialidades e, principalmente, as possibilidades de acesso que uma nova lei, que incorpore essa nova visão, traria.
O Ministério da Cultura não parece convencido disso. Sua proposta de reabertura do debate sobre a LDA, e de não envio do projeto ao Congresso, com a preocupação de que a internet ainda precisa ser mais discutida e de que os autores fiquem mais convencidos demonstra a intenção de retardamento do processo de revisão. Aos consumidores da cultura que, pelo alto preço do mercado tradicional de bens e serviços culturais, passam a utilizar legitimamente as redes para acessar e compartilhar cultura, resta o rótulo da “pirataria” e o espírito da marginalização.
Nesse quadro, não é apenas a resistência dos movimentos de cultura digital que chamarão a atenção para a necessidade de compatibilização de direitos, especialmente na internet. A vida cotidiana das pessoas comuns, cidadãos e cidadãs, autores ou não, comprova isso. A todo momento, por tratar-se de algo legítimo, as pessoas trocam músicas pela rede; criam colaborativamente filmes, imagens, programas; digitalizam livros e textos na ânsia de que os recursos educacionais atinjam o maior número possível de pessoas. Isso não pode ser ilegal. Num país como o Brasil, isso é justo. Mais que resistência, isso é realidade.
Caso contrário, fará sentido a resignação com o fato de sermos todos piratas, infratores, marginais e desobedientes. Fará sentido o chamado público do “Dia da Rendição”10, para que todos se entreguem às delegacias de polícia de sua cidade, confessando serem infratores de direitos autorais. “Se você copiou uma música do seu Ipod para o de seu amigo”. “Tirou cópia de um livro na faculdade para estudar”. “Baixou música da internet”. “Faça seu papel de cidadão e entregue-se!”. É o que diz a chamada. Se isso ocorrer, o número de delegacias do Brasil não será suficiente para a quantidade de delinqüentes.
---
1. http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ7111CEC5PTBRNN.htm. Acesso em 12/04/11.
2. http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ61EDAA11ITEMIDA3DB7CD4E06441EA8B139.... Acesso em 12/04/11.
3. http://www.mpaal.org.br/2010/quemsomos.htm Acesso em 12/04/11. Acesso em 12/04/11.
4. http://www.apcm.org.br/associacao.php Acesso em 12/04/11.
5. http://www.ubv.org.br/index.php?pagina=video6 Acesso em 12/04/11.
7. Discursos da Ministra explicando os motivos para a retirada do selo de licenciamento: http://bit.ly/hAx4Oh;(link is external) http://bit.ly/ewl0iQ. A nota no site do MinC informou: “A retirada da referência ao Creative Commons da página principal do Ministério da Cultura se deu porque a legislação brasileira permite a liberação de conteúdo. Não há necessidade do ministério dar destaque a uma iniciativa específica. Isso não impede que o Creative Commons ou outras formas de licenciamento sejam utilizados pelos interessados.” Disponível em http://www.cultura.gov.br/site/2011/01/22/licenca-de-uso/ Acesso em 12/04/11.
8. Entrevista da Ministra da Cultura Ana de Hollanda publicada pelo Estadão em 27/03/11, disponível em http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110327/not_imp697748,0.php. Acesso em 12/04/11.
9. Relatório de 15/02/11, disponível em http://www.iipa.com/rbc/2011/2011SPEC301BRAZIL.pdf