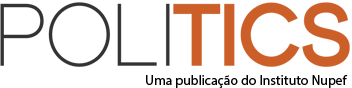Walled Gardens vs. Creative Commons - artistas nacionais em meio a contradições estrangeiras

Marcos Dantas, professor do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da UFRJ, autor do livro ‘A lógica do capital-informação’
Data da publicação: dezembro 2010
A acalorada discussão a respeito dos direitos autorais e do Creative Commons que, em boa hora, mesmo sem querer, algumas decisões da ministra da Cultura, Ana de Holanda, suscitaram, pode servir para iluminar problemas emergentes ainda pouco compreendidos, que estão na base desse debate. Por uns, a polêmica é descrita como se um grupo de pessoas cujos interesses não estariam muito claros mas, dizem, ligar-se-iam a organizações ou ONGs “estrangeiras”, estivesse motivado a destruir a música, quando não a própria cultura “nacional”. Por outros, a polêmica nos é apresentada como conseqüência natural das possibilidades “interativas” e “colaborativas” proporcionadas pelas “novas tecnologias”, erodindo o poder de outras tantas organizações não menos “estrangeiras”, tais como a Microsoft, a Disney ou a indústria fonográfica, em geral. No meio, com justas desconfianças, os artistas, sobretudo os músicos, perguntam-se: e como fica a remuneração pelo nosso trabalho, ou seja a nossa própria sobrevivência? Os termos jurídicos e, daí, políticos em que o debate é colocado, podem estar favorecendo o temor dos artistas. E corre-se o risco, a permanecermos na discussão fenomênica, de pouco avançarmos na compreensão do real objeto em discussão, logo das contradições sociais aí envolvidas. Este objeto chama-se informação.
Num texto já antigo, de 1962, o economista liberal Kenneth Arrow observou que as manifestações sociais baseadas na organização e comunicação de informação dificilmente poderiam ser tratadas como mercadoria: não são divisíveis em unidades idênticas; não estão submetidas à lei dos rendimentos decrescentes, logo, ao princípio da escassez; e o custo marginal de qualquer reprodução de uma unidade original tende a zero, logo, a preço nulo. O interessante desse texto, além da sua originalidade teórica, é ter sido escrito quando nem de longe se podia imaginar o que, um dia, viriam a ser a internet e toda essa pletora atual de tecnologias digitais. Em outras palavras, os problemas ora em debate não decorrem, em si, das “novas tecnologias”, embora estas possam ter muito contribuído para tal, mas da própria evolução do capitalismo para um tipo de economia que pretende tratar a informação como mercadoria, algo que, à sua época, Arrow ainda sugeria como uma possibilidade de muito difícil realização futura. Foi claro: nos termos neoclássicos do “ótimo de Pareto”, a informação deveria ser tratada como “recurso público”, sob pena de alocação ineficiente dos investimentos.1
De lá para cá, a realidade parece estar confirmando o vaticínio de Arrow. A extraordinária expansão econômica e social, em todo o mundo, da chamada “pirataria” (não apenas de música, mas de tênis, camisas, bolsas, tudo o que tenha marca ou grife, isto é, valor de uso estético ou simbólico), bem como as práticas sociais do “dom-contra-dom” na internet2, crescem na razão direta em que se expandem as práticas capitalistas de mercantilização e apropriação da informação (e, menos devido às “tecnologias”). Por isto, este já se tornou não o mais importante, mas pelo menos um dos mais importantes problemas com que se defronta o capital em sua atual fase, a ponto de os principais países e corporações multinacionais estarem negociando um acordo internacional conhecido pela sigla ACTA (Anti Counterfeiting Trading Agreement), que pretende reforçar os poderes policiais dos Estados nacionais no combate ao que for definido, nos termos desse Acordo, como “pirataria.3”
De fato, esta é uma questão que, tudo indica, a seguir assim, só pode ser tratada como caso de polícia...
O PÃO E O LIVRO
Imagine o seguinte. Você compra pães na padaria. O cesto do padeiro fica vazio de uns tantos pães e o seu bolso, de umas tantas moedas. O valor de troca dos pães é função do tempo de trabalho social médio dos trabalhadores da padaria, sendo o dinheiro pago ao padeiro, uma fração do seu salário, logo do dinheiro pago a você, pelo seu próprio patrão, pelo valor de troca do seu trabalho. Trocaram-se aí valores equivalentes. Já o valor de uso dos pães é a energia contida no seu material a ser transferida ao seu corpo, uma vez ingerido. O padeiro lhe alienou esse valor de uso. Você fará dele o que bem entender, poderá comer o pão, poderá dá-lo a um mendigo. No valor de uso não há troca de equivalentes, o padeiro entregou, você levou. Por isto, o estudo do valor de uso não seria objeto da Economia Política, como já advertira Marx, logo nos primeiros parágrafos d’O Capital. Você vai comer os pães e, algum tempo depois, aquele punhado de matéria terá sido completamente digerido e destruído para atender às suas necessidades alimentares. O que sobrar, a ser devidamente evacuado pelo seu corpo mais tarde, talvez ainda sirva a vermes e micróbios, mas não mais ao seu organismo. Energia não cresce, nem decresce, se transforma... Qualquer pessoa conhece esta lei da termodinâmica, origem do princípio econômico da escassez. Conseqüência: no dia seguinte, você precisará voltar à padaria e comprar novos pães.
Bem alimentado, você compra um livro na livraria. A estante da livraria fica esvaziada desse exemplar e sua conta bancária perde saldo. No entanto, ao contrário dos pães, somente em parte você pagou, pelo livro, o que seria o valor de troca do trabalho diretamente envolvido na sua fabricação: o trabalho de desenhistas, diagramadores, gráficos etc. De fato, você não comprou esse livro em função desse trabalho. O valor de uso do livro é o seu conteúdo semântico, sígnico, simbólico, estético, é aquilo que você apreende do livro a partir da sua interação com suas letras, figuras, desenhos, números etc. Para usufruir do livro, você não pode destruí-lo, como o faz com os pães. Você também poderá lê-lo sozinho, ou junto com seu filho ou filha (se for conteúdo adequado), ou juntinho com sua mulher, marido, namorada, namorado, numa gostosa tarde chuvosa de sábado... Você pode compartilhar o valor de uso do livro. Já o pão, ou bem você comprou dois ou mais pães para comê-los em boa companhia ou você vai dividir o seu pão ao meio. É que, ao contrário do valor do pão, o do livro é de rendimento crescente. O real valor do livro não foi produzido pelo empresário e seus trabalhadores gráficos, mas pelo escritor ou escritora. O mesmo vale para o(s) músico(s), cineastas, artistas em geral, inclusive, hoje em dia, para os figurinistas e estilistas de bolsas, roupas, outros objetos de grife. E o trabalho que gerou esse valor de uso não é trabalho “igual”, não é trabalho “simples”, não é trabalho abstrato, aqui adotando as conhecidas categorias marxianas.
Esse tempo de trabalho não é definível a priori, nem é cambiável. Os donos da gráfica ou da prensa de discos podem saber exatamente quantos exemplares de livros ou discos produzirão por hora, com os seus empregados, máquinas e materiais. E, daí, calcular com exatidão os seus custos e lucros. Mas o autor ou autora não sabem com exatidão quantas semanas ou meses levarão escrevendo ou compondo. Podem até fazer uma certa ideia disso, podem definir e tentar cumprir metas. Seja como for, ao cabo, o autor ou autora terão produzido um original. E terão tido, durante todo esse tempo, as mesmas necessidades de comprar pães, além de pagar contas de luz, de aluguel, vestirem-se, moverem-se de ônibus ou carro, arcarem com os custos de educação dos filhos, etc., etc., igual a qualquer outro trabalhador. Estas e outras contas, pagam com o que recebem a título de direitos autorais (copyright).
O direito autoral assegura um monopólio, reconhecido por lei, do autor ou autora sobre as suas ideias e a forma como a executaram, isto é, sobre os seus originais. Ele ou ela não recebem salário, recebem renda. Antes que a arte chegasse à sua era de reprodutibilidade técnica, na famosa expressão de Walter Benjamin, a obra do autor quase que tinha de caminhar com ele, aonde ele a pudesse apresentar. O livro, é verdade, já podia ser reproduzido nas prensas de Gutenberg mas, não por acaso, a grande maioria dos escritores vivia (mal) de empregos em jornais, repartições públicas, escolas, outras fontes de renda. Músicos, autores teatrais, pintores ou escultores viviam diretamente de suas apresentações ao vivo, ou da venda de seus originais pintados ou esculpidos, quando não de polpudas ajudas de algum rico mecenas. Ao contrário do operário que recebia um salário pelo seu trabalho abstrato, o artista recebia algum rendimento pela originalidade, unicidade, exclusividade do seu trabalho concreto.
A industrialização capitalista da arte gerou um fenômeno que Arrow terá sido o primeiro a perceber através de categorias próprias da escola neoclássica. Para atingir o grande público, para chegar no público de massa, para ir a longas distâncias, o original artístico precisava ser tratado como um outro produto material qualquer. Talvez a pintura, a escultura, ou mesmo o teatro tenham ficado mais ou menos à margem desse processo. A literatura, a música e esta nova arte típica do século XX, denominada “cinema”, puderam ser totalmente incorporadas a processos industriais de reprodução, organizados conforme a lógica capitalista de acumulação. Para que isto seja possível, o artista, para todos os efeitos práticos, aceita transferir o seu direito autoral para algum empresário. Este torna-se detentor do monopólio e das rendas daí derivadas, repassando a parte contratada para o autor ou autora. Sobre este princípio monopolista erigiram-se, com as devidas adaptações, as indústrias cinematográficas, fonográficas e editoriais modernas.
Dado o rendimento crescente do valor de uso artístico (ou qualquer outro, informacional), a remuneração do investimento será assegurada, basicamente, por dois fatores convergentes:
1. o próprio monopólio sobre o direito autoral;
2. as barreiras à entrada representadas pelos custos de investimento na indústria de reprodução e distribuição.
Na medida em que nem todo mundo pode reunir o capital inicial necessário para construir uma fábrica de gravação de discos ou uma boa gráfica de livros, bem como montar toda a estrutura necessária à distribuição, aqueles que o podem – numa palavra, os capitalistas – tirarão as vantagens daí derivadas. Assim nascerão e se consolidarão, ao longo do século XX e tendo, por trás, o capital financeiro, os grandes grupos cinematográficos, fonográficos, editoriais que, com o passar do tempo se consolidarão nos conglomerados mediáticos deste início de século XXI: Time-Warner, Disney, News Corp., Vivendi etc.
“TIME IS MONEY”
Desde os tempos da telegrafia e da ferrovia, no século XIX, o capitalismo industrial investe em meios para anular tempos de produção e distribuição, tanto de mercadorias, quanto de obtenção, organização, comunicação de informação pois, como sabemos, “tempo é dinheiro”. Daí, o desenvolvimento permanente e evolução constante das tecnologias de informação e comunicação (TICs), passando pela telefonia e radiodifusão até chegar na informática e internet. A cada revolução tecnológica (provocada pelas contradições do capital, não o contrário) ocorrem, já o disse Schumpeter, grandes reestruturações produtivas, destroem-se indústrias e criam-se indústrias novas, remodelam-se os próprios modos cotidianos de existência material e cultural da sociedade. Nas últimas décadas, através das novas TICs, foi dado, sem dúvida, um duro golpe na forma como se organizara a indústria cultural ao longo do século XX: a barreira à entrada representada pela dimensão de capital fixo necessária à reprodução e distribuição de produtos artísticos veio abaixo, como o muro de Berlim, depois do aparecimento da internet. O tempo de produção e de distribuição, em muitos casos, foi literalmente reduzido ao limite de zero. Isto permite ao artista colocar-se imediatamente em contato com o seu público; entregar a ele, diretamente, o valor de uso do seu produto e negociar com ele, sem intermediários, a remuneração pelo seu trabalho. Muitos músicos já estão fazendo exatamente isso, como, num exemplo muito citado, os grupos tecnobregas do Pará. Entenderam que podem viver muito bem de seus espetáculos ao vivo, ou seja do trabalho concreto vivo, reduzindo a comercialização do trabalho morto, isto é dos CDs ou DVDs, a fonte de renda secundária ou desnecessária. No entanto, esta nem sempre será uma solução possível para todos. O escritor, por exemplo, terá, talvez, mais dificuldade de viver recitando suas obras... A produção cinematográfica, ou a audiovisual, em geral, pela sua própria natureza de nascença, não podem prescindir dos processos de reprodução e distribuição (salas de cinema, redes de TV etc.), além de serem intrinsecamente coletivas, reunindo, cada vez mais, diferentes perfis de trabalho concreto (diretores, artistas, roteiristas, fotógrafos, projetistas de efeitos etc.).
A indústria está se reconfigurando. Se a produção industrial de réplicas encontra-se em franco declínio, surgem novos modelos de negócios já denominados, na literatura empresarial, “jardins murados” (walled gardens). Exemplo típico é o sistema iPod/iTunes da Apple: você não compra mais o CD, mas você ainda compra um suporte material (iPod) que lhe dá acesso a uma rede codificada e conectada a uma base de dados (iTunes), de onde você poderá baixar, após devido pagamento, músicas e vídeos da sua preferência.
Grandes corporações mediáticas como a Apple, a Nokia (e seus smartphones), a Sony (e seu blu-ray), as redes de TV por assinatura a cabo ou satélite, as salas digitais de cinema estão substituindo o acesso ao valor de uso via compra de uma cópia unitária material, pelo acesso via terminal. Desaparece a indústria baseada na reprodução do suporte unitário, cresce a indústria baseada no suporte em rede. Os tempos de reprodução e distribuição são reduzidos ao limite de zero. Mas permanece, renovando-se, o poder econômico e cultural adquirido pelo açambarcamento do direito autoral do artista por parte de conglomerados mediáticos mundializados, direito esse que nem todo artista pode deixar de alienar se quiser atingir, num mesmo instante, um grande público em um grande espaço.
A CONTRADIÇÃO DA INTERNET
A internet surgiu, nos anos 1970-1980, em ambiente científico acostumado ao compartilhamento e à não remuneração direta pelo trabalho realizado (ninguém ganha nada diretamente por cada paper publicado). Essa cultura fez nascer, por um lado, a crença numa rede em que todos e todas poderiam compartilhar livremente suas ideias, conhecimentos, arte, produtos. Na medida, porém, em que a internet, ao se massificar, ia perdendo a sua elitista homogeneidade social e intelectual original e, ao mesmo tempo, ia sendo colonizada pelo capital, ela incorporou, e não podia deixar de incorporar, os conflitos próprios dos interesses contraditórios reais que movem a sociedade concreta em que vivemos.
Diante do avanço da lógica capitalista, surge, um tanto quanto espontaneamente, a partir dos herdeiros e defensores daquele ideário inicial, a proposta, entre outras, do Creative Commons (CC). Este não propõe que qualquer artista seja obrigado a abrir mãos dos seus direitos. O CC não revoga qualquer legislação de qualquer país, até porque somente algum Parlamento ou outro poder legislativo similar podem fazer isto, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, seja onde for. O CC apresenta-se como uma proposta ética e política, pela qual o artista, se quer e pode, declara abrir mão dos direitos que a lei lhe confere, em troca de certos comportamentos por parte dos usuários de sua obra: estes podem usá-la “de graça” mas não podem comercializá-la, ou podem modificá-la sem esquecer o crédito ao autor original etc. O autor ou autora determinam como a obra poderá ser usada. E esperam que a sociedade respeite seus desejos. Se estes desejos não forem respeitados... bem, a lei continua aí mesmo para o autor fazê-los valer. E estes duram até que a obra caia em domínio público.
Os defensores e ativistas do CC sugerem que, para a sociedade, melhor seria construir um novo pacto de uso livre e compartilhamento geral das obras artísticas, a aceitar que algum adolescente ou alguma dona de casa possam ter seus lares invadidos pela polícia e sejam levados às barras de um tribunal por estarem baixando música na internet, como cansa de acontecer nos Estados Unidos ou Europa. Sustentam que qualquer obra, uma vez publicada, é... pública. A tecnologia dá suporte prático a essa lógica mas, de fato, todo e qualquer conhecimento, seja científico, seja artístico, resultará do trabalho de algum indivíduo ou coletivo de indivíduos sobre uma ampla base social de conhecimento. Por isto, independentemente da tecnologia, se o trabalho precisa ser valorizado e assim remunerado, o seu resultado, inseparável da sua base social, deveria ser socializado.
Não é uma proposta que agrade às grandes corporações mediáticas, nem mesmo a um número significativo de grandes artistas, como está claro nos debates atualmente em curso no Brasil. O pomo da discórdia é a remuneração do trabalho, uma vez revogado o princípio da equivalência contido no valor de troca. É possível que, para muitos, o CC se assemelhe a uma reencarnação pós-industrial de Charles Fourier e outros utópicos, buscando edificar, na sociedade, um acordo em que todos e todas aceitariam viver frugalmente do produto de seu trabalho e, de modo espontâneo, se remunerariam mutuamente num grande falanstério reticular cultural global. Os seus críticos, ao contrário, estariam apostando nos “jardins murados” como um modelo no qual teriam melhores meios de barganhar as rendas que se consideram merecedores.
A boa notícia (ou má notícia, dependendo do observador) é que, voltando a Kenneth Arrow, a informação – logo, o conhecimento, a ciência, a arte – continua refratária à apropriação e mercantilização. A massificação da internet, levando à definitiva substituição dos antigos suportes unitários materiais por suportes em rede, poderá seguir permitindo a evolução, paralela à dos “jardins murados”, de sistemas P2P e outros mecanismos de socialização do conhecimento. É o que dá força política, no presente estágio, ao CC. Se a sociedade, a começar pelos próprios artistas, entender o quê está política e ideologicamente em jogo, poder-se-á avançar na direção da construção de um pacto (com seus mecanismos) que reconheça o direito do trabalho artístico a ser (bem) remunerado e o da sociedade, ao livre acesso à arte e ao conhecimento. Sem necessidade de intermediários...
Mas será a sociedade politicamente consciente, não a tecnologia em si, que decidirá essa evolução. Se não, considerando a vigorosa ofensiva publicitário-ideológica, ao lado da policial, contra a assim dita “pirataria”, bem como o acrítico êxito mercadológico crescente dos tablets e pay-per-views, podemos esperar que, num futuro não muito distante, a internet acabará tendo um destino similar ao da radiodifusão, nos anos 20 do século passado: de meio livre e interativo de uso público, conforme sonhado por Bertold Brecht, acabou actada (perdão pelo trocadilho...) aos interesses dos governos e grandes corporações. Aliás, como se sabe, nos Estados Unidos, na Comunidade Européia, também no Brasil, avança o debate sobre leis que buscam, justamente, acabar com a festa...
---
1. O texto “The economic welfare and the allocation of the resources for invention” pode ser acessado em http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf
2. Nos termos do Manifesto Cibercomunista do sociólogo britânico Richard Barbrooke, de 1999, disponível em português, em http://globalization.sites.uol.com.br/cibercomunista.htm
3. Ver, na Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement(link is external), ou no YouTube, o vídeo “No ACTA”, disponível em http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xEUmeLPJqAQ