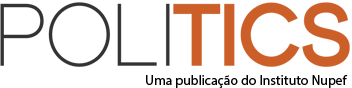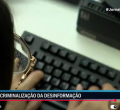Plataformas digitais no contexto regulatório: desafios da imprecisão conceitual diante da multiplicidade

Igor José da Silva Araújo é coordenador jurídico no Movimento Internacional de Juventudes (MOV). Global Youth Ambassador pela TheirWorld. Especialista em Direito Digital e Direito Público. Fellow do Programa Youth do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Rio São Francisco (UNIRIOS). Pesquisador no âmbito da governança da Internet, Direito e inovação. Advogado.
Jadson Correia de Oliveira é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo Ius Gentium Conimbrigae - IGC/CDH, da Universidade de Coimbra. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. Especialista em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco - ESMAPE. Professor do curso de Direito do Centro Universitário do Rio São Francisco - UniRios. Professor Adjunto da Universidade Federal de Sergipe e docente do Programa de Pós-Graduação, mestrado em Direito na mesma instituição. Membro do grupo de pesquisa Constituição, Política e Instituições Judiciais. Coordenador da Revista Rios. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIRIOS. Advogado.
Resumo
O artigo analisa os desafios da regulação das plataformas digitais, partindo da constatação central da imprecisão conceitual que envolve o termo “plataforma digital”. A pesquisa tem como ponto de partida a consulta pública promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), cujo objetivo foi captar percepções da sociedade sobre a regulação dessas plataformas diante de um cenário de crescente complexidade tecnológica e social. A metodologia empregada é tripla: revisão bibliográfica interdisciplinar, análise das respostas da consulta pública e estudo comparativo de projetos de lei (PL 2630/2020 e PL 2768/2022). O texto demonstra como a ausência de uma definição precisa compromete o processo regulatório. Na primeira parte, enfatiza-se a importância de conceitos jurídicos claros para garantir segurança normativa, prevenir ambiguidades e evitar a “inovação perversa” — reconfiguração estratégica das plataformas para escapar da regulação. A análise do PL 2630/2020 revela que a imprecisão de termos abre margem a arbitrariedades e pode ameaçar a liberdade de expressão. O artigo também mapeia abordagens teóricas sobre plataformas digitais, com autores como Gillespie, Srnicek e Van Dijck, destacando que essas plataformas possuem funções híbridas e multifacetadas que desafiam classificações rígidas. A crítica ao PL 2768/2022 mostra que uma taxonomia fixa e vaga ignora essa fluidez, gerando insegurança jurídica e potencial judicialização. Conclui-se que a regulação eficaz requer marcos normativos flexíveis, com critérios técnicos que reflitam a multiplicidade das plataformas, defendendo um ecossistema regulatório setorial, capaz de promover um ambiente digital mais justo e inovador.
1. Introdução
O mundo contemporâneo encontra-se profundamente imerso em um cenário de expansão digital contínua, impactando de maneira irreversível os modos de comunicação, consumo, trabalho e interação social. Nesse panorama, as plataformas digitais emergem como pilares estruturantes dessa nova era, configurando ambientes dinâmicos que conectam milhões de usuários ao redor do globo (Srnicek, 2016). Elas promovem interações, compartilham experiências únicas e viabilizam a realização de atividades cotidianas de forma inovadora. Contudo, o potencial disruptivo dessas tecnologias não se dá sem desafios, especialmente no que tange aos riscos associados às suas operações, como a disseminação de informações falsas, violações de privacidade e a proliferação de cibercrimes (Boyd e Ellison, 2007).
Diante da crescente complexidade tecnológica e social, a regulação das plataformas digitais tornou-se tema central no debate público e legislativo. O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), reconhecendo a urgência do tema, promoveu uma consulta pública com o intuito de ouvir a sociedade e fomentar reflexões sobre os principais desafios regulatórios. A pergunta norteadora — “Quem regular?” — evidencia tanto a dificuldade de delimitar os agentes reguladores quanto de definir com precisão o objeto da regulação, buscando evitar a vagueza conceitual e a rigidez classificatória.
Este estudo tem como objetivo mapear as definições de “plataforma digital” presentes nas contribuições à consulta pública do CGI.br e em referências bibliográficas relevantes, demonstrando como a imprecisão conceitual compromete os esforços de regulação. Para isso, adota-se uma metodologia tripartite: (i) revisão bibliográfica interdisciplinar sobre o conceito de plataformas digitais; (ii) análise sistemática das respostas ao item 1 da consulta pública, centrado na busca por uma definição adequada; e (iii) estudo de caso comparativo dos projetos de lei 2630/2020 e 2768/2022, que ilustram, respectivamente, os riscos da imprecisão e os limites de uma abordagem normativa inflexível.
O artigo organiza-se em quatro seções. A primeira contextualiza os desafios regulatórios e a necessidade de um marco conceitual sólido. A segunda aborda a imprecisão conceitual como entrave à segurança jurídica, com base em autores e na consulta do CGI.br, incluindo crítica ao PL 2630/2020. A terceira seção aprofunda a definição de plataformas, explorando abordagens teóricas e suas funções híbridas. Por fim, o artigo analisa os problemas de classificação funcional ampla, utilizando o PL 2768/2022 como exemplo dos riscos de normatizações genéricas e inflexíveis.
Essa estratégia integrada não apenas aprofundou a compreensão dos desafios regulatórios decorrentes da imprecisão conceitual, como também evidenciou como definições pouco claras comprometem a aplicação prática e a eficácia das normas. Ao articular bases teóricas, evidências empíricas e uma análise crítica de instrumentos legais, o estudo oferece subsídios para a construção de um marco regulatório adaptável, apto a integrar as complexidades de um ecossistema digital dinâmico
2. Imprecisão conceitual: um desafio à regulação
2.1. A necessidade de definições claras
No âmbito jurídico, a precisão conceitual constitui um elemento essencial para a formulação de marcos regulatórios eficazes, pois permite que as normas sejam compreendidas de forma uniforme e aplicadas com consistência, reduzindo ambiguidades e lacunas interpretativas (Kelsen, 1998). No contexto das plataformas digitais, a inexistência de um conceito consolidado aumenta a complexidade do processo regulatório, gerando insegurança jurídica e criando um cenário favorável à exploração de brechas normativas.
Esse cenário é evidenciado pelas contribuições de entidades como o CEPI FGV Direito SP e o LABID (UFBA), que ressaltam a dificuldade de se construir uma definição única e suficientemente abrangente para plataformas digitais, diante da constante evolução de seus modelos de negócios e funções. O CEPI, por exemplo, adverte que definições excessivamente restritivas podem se tornar obsoletas ou incentivar a "inovação perversa", na qual plataformas se reestruturam para escapar da incidência normativa, sem eliminar os riscos que justificariam sua regulação (CGI.br, 2023).
Visão semelhante é compartilhada por Filipe Saraiva e Everton Rodrigues (CGI.br, 2023), que definem as plataformas como sistemas computacionais que intermediam fluxos econômicos e sociais entre diferentes atores, destacando sua função técnica de articulação de interações em rede. O Instituto Vero (CGI.br, 2023), por sua vez, enfatiza o papel das plataformas como produtos digitais que viabilizam a transmissão e organização de informações, estruturando a dinâmica comunicacional entre os usuários.
Entre as características estruturantes identificadas no relatório do CGI.br, destacam-se a coleta sistemática de dados, o uso de algoritmos para processamento e a aplicação de inteligência artificial como elementos centrais na caracterização dessas entidades. Esses fatores permitem às plataformas moldar interações, influenciar mercados e criar barreiras de entrada, configurando desafios específicos para a regulação (CGI.br, 2023).
Essa compreensão é reiterada pelas contribuições do DiraCom — Direito à Comunicação e Democracia, que denuncia a utilização de dados para criar barreiras à entrada e consolidar o poder de mercado das plataformas, com impactos sobre a diversidade informacional e os direitos fundamentais. Carlos Alberto Afonso também chama atenção para a incapacidade das atuais propostas regulatórias de abarcar desafios emergentes como a inteligência artificial generativa, a Internet das Coisas e as questões relativas à autoria e propriedade dos conteúdos digitais (CGI.br, 2023).
A ausência de uma definição precisa também dificulta a harmonização entre as normas regulatórias e as particularidades de cada tipo de plataforma. Como observado por Srnicek (2017), o conceito de “plataforma” não pode ser tratado como monolítico, dado que abrange tanto infraestruturas transacionais — que conectam usuários e fornecedores — quanto plataformas de inovação, que operam como bases tecnológicas para o desenvolvimento de novos serviços.
Uma mesma preocupação expressa por instituições como a CTS-FGV e a Telefônica Brasil, que defendem a análise das plataformas como elementos centrais de ecossistemas digitais multilateralizados (CGI.br, 2023). Para esses atores, compreender as plataformas como estruturas que operam em mercados de múltiplos lados, com diferentes formas de precificação e efeitos de rede, é essencial para assegurar a efetividade regulatória.
Ante o exposto, as divergências sobre as características essenciais dessas estruturas — se são sistemas técnicos, ecossistemas econômicos ou arenas de mediação simbólica — indicam a necessidade premente de uma definição jurídica clara, capaz de orientar a atuação regulatória sem restringir indevidamente a inovação ou a pluralidade funcional das plataformas. Tal lacuna, se não enfrentada, tende a produzir efeitos ainda mais críticos quando transposta para casos concretos, como se verifica no Projeto de Lei nº 2630/2020.
2.2. O caso do PL 2630/2020
Um exemplo paradigmático das dificuldades decorrentes da ausência de definições claras no campo regulatório é o Projeto de Lei nº 2630/2020, amplamente conhecido como "PL das Fake News". Essa proposta legislativa objetiva mitigar os danos provocados pela disseminação de informações falsas no Brasil, impondo diretrizes para uma atuação mais responsável das plataformas digitais (Brasil, 2020).
Por outro lado, o PL 2630 evidencia as fragilidades normativas associadas à falta de clareza conceitual. O termo “fake news”, eixo central do projeto que leva o título popular, não possui delimitação jurídica precisa, o que culmina em interpretações divergentes e compromete a eficácia e a legitimidade do instrumento legislativo.
A imprecisão do conceito central gera implicações significativas. Primeiro, compromete a operacionalização do projeto de lei, pois deixa margem para interpretações amplas e potencialmente arbitrárias sobre o que constitui “informação falsa”. Segundo, enfraquece a legitimidade do PL enquanto instrumento normativo, ao permitir que interpretações conflitantes sejam usadas de forma desproporcional ou seletiva. Além disso, a falta de especificidade amplia preocupações acerca da compatibilidade do projeto com direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, especialmente em um contexto de polarização social e política, onde o uso inadequado da legislação pode exacerbar conflitos (Gillespie, 2018).
Essa problemática foi abordada na consulta pública promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que destacou a necessidade de conceitos claros e robustos para plataformas digitais. O relatório do CGI.br (2023) enfatiza que a construção de um arcabouço regulatório eficiente exige definições que transcendam a descrição superficial das funcionalidades das plataformas. Deve-se considerar elementos como o papel das plataformas na mediação de conteúdos, seu impacto nos fluxos informacionais e suas práticas de moderação, bem como os riscos decorrentes de seu modelo de negócio baseado no uso intensivo de dados e algoritmos.
A ausência de definições sólidas no PL 2630 também reflete o que o CGI.br classifica como “paradoxo regulatório”: a tentativa de normatizar fenômenos complexos sem antes estabelecer as bases conceituais que sustentem essa normatização (Brasil, 2020). O resultado é um instrumento legislativo vulnerável, que pode tanto gerar insegurança jurídica quanto limitar a efetividade das medidas propostas.
Adicionalmente, as plataformas digitais não podem ser tratadas de forma homogênea, dada a diversidade de seus modelos de operação e impactos. Enquanto algumas plataformas exercem papéis predominantemente transacionais, outras assumem funções de curadoria de conteúdo ou intermediação de interações sociais (CGI.br, 2023). O texto normativo do PL 2630 peca também quando se concentra quase que exclusivamente em redes sociais, negligenciando outros espaços críticos de disseminação de desinformação, como marketplaces (que abrigam anúncios falsos) e aplicativos de mensagens privadas (como o WhatsApp). Ou seja, a proposta legislativa falha em não integrá-las em seu escopo, expondo uma lacuna estrutural no projeto, já que a desinformação não se restringe a redes sociais, mas se prolifera em ambientes comerciais e comunicacionais distintos, cada qual com dinâmicas e riscos específicos.
O caso do PL 2630, e sua atual inércia conceitual, evidencia que qualquer proposta regulatória eficaz deve partir de um conceito jurídico sólido e tecnicamente embasado. Apenas com critérios claros e objetivos é possível alinhar responsabilidades às atividades específicas de cada tipo de plataforma, mitigar riscos e promover um ambiente digital mais transparente e equilibrado.
3. Conceituando plataformas digitais
3.1. Evolução do conceito de plataformas
Com o advento da Web 2.0, as plataformas digitais passaram por uma transformação significativa, consolidando-se como ambientes dinâmicos e interativos, nos quais os usuários desempenham um papel ativo na produção e disseminação de conteúdo (D’Andrea, 2020). Nesse novo contexto, deixou-se de lado o modelo passivo de consumo de informações, característico da Web 1.0, para dar lugar a um espaço em que a colaboração, a personalização e a conectividade definem a experiência digital, marcando a transição para uma Internet participativa.
Essa evolução, além de alterar profundamente as dinâmicas de comunicação e interação social, ampliou a complexidade do próprio conceito de "plataformas digitais". Inicialmente vistas apenas como ferramentas de intermediação entre usuários e serviços, as plataformas passaram a ser entendidas como agentes estruturantes de ecossistemas digitais, exercendo influência significativa em setores como comunicação, comércio e entretenimento (Van Dijck et al., 2018).
A ausência de uma definição amplamente consensual reflete essa complexidade. O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br, 2023) aponta que as plataformas digitais englobam desde infraestruturas tecnológicas que conectam usuários até sistemas sofisticados que promovem a coleta massiva de dados, o processamento algorítmico e a curadoria de conteúdos. Nesse sentido, o termo “plataforma digital” tornou-se um conceito em disputa, aberto a diferentes interpretações dependendo do ponto de vista — seja econômico, técnico, social ou regulatório.
A imprecisão conceitual impacta diretamente os esforços regulatórios. Enquanto estudiosos como Gillespie (2010) destacam a natureza multifacetada das plataformas, classificando-as como “infraestruturas reprogramáveis que facilitam e moldam interações”, outros, como Srnicek (2017), enfatizam seus modelos de negócios baseados na extração de dados e nos efeitos de rede. Diante desse cenário, revela-se a necessidade de um esforço multissetorial para alinhar a definição de plataformas às suas especificidades tecnológicas e econômicas, de forma a subsidiar discussões regulatórias mais eficazes.
3.2. Abordagens teóricas
Em sua obra, Gillespie (2010) conduziu uma análise pioneira que investigou como empresas proeminentes, como Google e YouTube, estrategicamente se posicionam como intermediários neutros, cuja função seria facilitar a circulação democrática de informações e serviços na rede, buscando legitimar a atuação dessas empresas enquanto facilitadoras da livre troca de conteúdo e promotoras da pluralidade de vozes no ambiente digital. Gillespie, contudo, chama a atenção para a dimensão política desse discurso, sugerindo que tal posicionamento não apenas reflete estratégias corporativas, mas também carrega implicações normativas significativas.
Dentro do universo semântico do termo “plataformas”, o autor parte de um imaginário comparativo prático, como no comentário da consulta realizada pelo CGI.br inserido pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, e destaca sua dimensão infraestrutural, que remete metaforicamente às plataformas físicas, como estações de trem ou metrôs, sugerindo uma estrutura que viabiliza o trânsito fluido de informações, serviços e interações. Em complemento, Gillespie (2010) explora ainda como o termo também é mobilizado no contexto político, particularmente em campanhas eleitorais, onde “plataformas de governo” simbolizam espaços para a formulação e o debate de ideias, conectando diretamente o termo à ideia de mediação e organização de discursos públicos.
Outros autores oferecem perspectivas complementares. Hands (2013) privilegia uma abordagem técnica, definindo plataformas como estruturas de software que conectam usuários entre si, com a World Wide Web e com a própria Internet, destacando o papel das plataformas como interfaces tecnológicas que organizam e facilitam o acesso dos usuários a recursos e serviços disponíveis na rede. Essa concepção é consonante com as formulações de Filipe Saraiva, Everton Rodrigues e o Laboratório de Inovação e Direitos Digitais da Universidade Federal da Bahia (LABID/UFBA) que concebem as plataformas como sistemas computacionais e modelos de negócio ancorados em infraestrutura tecnológica online, cuja função primordial consiste em conectar atores diversos e articular interações.
Em uma dinâmica de concepção diversa, diversos participantes da consulta pública — entre os quais destacam-se o CTS-FGV, a Telefônica Brasil e o CEPI FGV Direito SP — sublinham o caráter multilateral das plataformas digitais, concebendo-as como entidades inseridas em ecossistemas complexos que articulam múltiplos grupos de usuários e agentes econômicos. As plataformas, segundo tais interlocutores, operam por meio de lógicas próprias de intermediação, com base em efeitos de rede e estruturas de precificação assimétricas, gerando valor a partir da intensificação das interações entre seus públicos.
Essa leitura se alinha à ideia de Gawer (2014, p.1240), que adota uma perspectiva de requisitos característicos funcionais ao conceituar "plataformas tecnológicas" como organizações ou metaorganizações que desempenham três funções principais: coordenação de agentes, criação de valor através da economia de escopo e escala, e implementação de uma arquitetura modular, ressaltando a importância das plataformas como facilitadoras da cooperação e da inovação, bem como sua capacidade de criar valor através da ampliação das oportunidades de interação e transação entre os participantes do ecossistema digital.
A partir de um ponto de vista mais voltado à economia digital, Van Gorp e Batura (2015) flerta com o comentário da Camara-e.net, os quais veem as plataformas como bases tecnológicas essenciais e indefiníveis, cuja função vai além da agregação de serviços e conteúdos, abrangendo a intermediação de interações entre provedores e usuários finais.
Segundo os autores, as plataformas são catalisadoras da conectividade e da cooperação, desempenhando um papel central na criação de valor e na facilitação de trocas dentro da economia digital. Essa visão é complementada por Ejik et al. (2015), que, na obra “Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policyoptions”, introduzem o termo "plataforma digital" para descrever um modelo de negócio centrado na intermediação entre agentes na oferta e troca de serviços e conteúdos digitais, enfatizando sua função como facilitadoras de interações ponto a ponto e promotoras de canais eficientes de transação.
Adotando uma perspectiva mais pragmática e voltado ao mercado de consumo, Evans e Schmalensee (2016) introduzem o conceito de “matchmakers” para descrever as plataformas como intermediárias que conectam ofertantes e demandantes de bens e serviços. Os autores destacam o papel ativo das plataformas na coordenação de interesses econômicos, ressaltando sua capacidade de promover interações comerciais eficientes e relevantes, contribuindo para a criação de valor ao facilitar transações mutuamente vantajosas.
No campo das interações políticas e sociais, Gillespie (2017) revisita e amplia seu conceito de plataformas, classificando-as como espaços que não apenas hospedam o debate público, mas também mediam, organizam e ordenam o acesso ao mesmo. Ele destaca os mecanismos de busca, recomendações e curadoria de conteúdo como ferramentas essenciais que transformam as plataformas em agentes ativos na estruturação do debate público, o qual sublinha o papel das plataformas como mediadoras da esfera pública digital, responsáveis tanto por ampliar o acesso à informação quanto por moldar a forma como os usuários interagem com conteúdos e discursos.
Uma dimensão recorrente nas contribuições de representantes da sociedade civil refere-se ao papel centralizador e, por vezes, hegemônico das grandes corporações que operam plataformas digitais. O Coletivo Digital e a professora Roseli Figaro (USP) chamam atenção para o fato de que essas empresas controlam ambientes virtuais globalizados, frequentemente ignorando normativas locais e promovendo dinâmicas de homogeneização cultural, desinformação e desestabilização democrática (CGI.br, 2023).
As múltiplas abordagens teóricas demonstram que as plataformas digitais não podem ser tratadas como entidades homogêneas. Sua definição envolve aspectos tecnológicos, econômicos e sociais interligados, que refletem sua natureza híbrida e dinâmica. O próprio CGI.br (2023) espera que qualquer tentativa de regulação considere essa complexidade, integrando elementos como a intermediação de conteúdos, o uso intensivo de dados e a organização de interações digitais.
A esse respeito, entidades como o CEPI FGV Direito SP, o Instituto Vero e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) advogam por uma regulação que não se paute por definições generalistas, mas que distinga tipologias de plataformas conforme seus modelos de negócio, seus impactos sociais e os riscos associados à sua operação (CGI.br, 2023).
3.3. Dimensão infraestrutural e multifuncionalidade
Mais do que meros intermediários, as plataformas digitais desempenham um papel ativo na mediação e na moldagem das interações sociais e econômicas na era digital. Moraes de Lima e Valente (2020, p.04) destacam a crescente expansão do escopo de atuação das plataformas, que agora engloba não apenas a facilitação da troca de conteúdo, mas também a produção e distribuição de conteúdo próprio, como observado em serviços como MSN.com e em investimentos em produções audiovisuais originais por parte de gigantes como Apple, YouTube, Amazon e Meta.
Partindo desse pressuposto, Grohmann e Salvagni (2023, p.37) vão além na busca por um conceito e compreendem que:
O nome “plataforma” existe desde muito antes das tecnologias digitais — plataformas de petróleo, por exemplo. Mas os recentes estudos de plataformas digitais vêm de um entrecruzamento de estudos advindos das áreas de software, administração, economia política e estudos culturais. Assim, o conceito de plataforma também é multifacetado. Ele significa — a um só tempo — empresa, software, infraestrutura, cultura. Desde os cabos submarinos e centros de dados, passando por gerenciamento do trabalho e extração de dados de trabalhadores, até chegar ao software e às interfaces, a noção de plataforma está presente. (Grohmann e Salvagni, 2023, p.37)
Nessa linha ampla, as plataformas digitais de trabalho possuem a capacidade de recrutar trabalhadores em diferentes escalas geográficas, e operam em estreita dependência de dados, algoritmos e práticas de vigilância. Essa dependência é evidente na organização e no funcionamento dessas plataformas, que são estruturadas em torno da coleta, processamento e utilização de dados para coordenar e regular as interações entre os diversos agentes envolvidos. (Grohmann e Salvagni, 2023, p.39).
No entanto, tal definição espaça ignora a busca por um conceito simplificado e agrega o conteúdo físico que, sob uma ótica digital, não seria considerada como integrante da expressão em comento, sendo a conceituação de Valente (2019) melhor exemplo do que se tenta compreender como “Plataforma Digital”:
As plataformas digitais são espaços mediadores ativos que colocam em contato diversos agentes para a aquisição de um bem ou serviço (como a compra de um produto na Amazon ou o download de um aplicativo na Apple Store), a interação social (como no caso do Facebook ou Snapchat) ou para a realização de atividades específicas (a busca por um local para passar uma noite ou temporada no Couchsurfing). (Valente, 2019, p.16).
Por ser a interação social a sua essência, com o passar do tempo, a inclusão de aspectos sociais no processo de conhecimento, formação e desenvolvimento das plataformas digitais tornou-se inevitável, ressaltando a interconexão entre tecnologia e sociedade, o que pode ser tanto uma vantagem quanto um desafio. Embora isso permita uma compreensão mais abrangente do impacto das plataformas digitais na cultura, na economia e na sociedade como um todo, também pode obscurecer as questões éticas e políticas subjacentes ao seu funcionamento, como questões de privacidade, poder de mercado e justiça social (D’Andréa, 2020, p.36).
Certo é que, as plataformas digitais, conforme já delineadas, surgem como elementos fundamentais da paisagem digital contemporânea, constituindo-se em infraestruturas virtuais que não apenas facilitam interações e transações entre uma variedade de agentes online, mas também, exercem uma influência ativa na organização, curadoria e acesso aos dados digitais (Gillespie, 2018b, p. 197).
Diante dessa multiplicidade de funções e formatos, faz-se necessário distinguir as tipologias específicas de cada plataforma — redes sociais, marketplaces, serviços de streaming, plataformas de trabalho, entre outras — para compreender como suas características operacionais incorporam atributos específicos que moldam não apenas suas funcionalidades, mas também as exigências regulatórias a que devem se submeter, buscando evidenciar o porquê dos conceitos genéricos não darem conta da complexidade do ecossistema digital.
4. Plataformas digitais: entre a multiplicidade e os desafios regulatórios
4.1. Categorias e heterogeneidade funcional
Embora existam definições amplamente aceitas no discurso técnico, a multiplicidade de enfoques disciplinares sobre plataformas digitais e os aspectos sociais intrínsecos às suas funcionalidades ampliam a abrangência do termo, o que dificulta o consenso sobre os conceitos, os mecanismos de normatização e as atribuições específicas dessas entidades.
A diversidade é evidente ao se observar os diferentes tipos de plataformas digitais disponíveis: redes sociais, marketplaces, serviços de streaming, aplicativos de mensagens e plataformas de jogos, entre outros. Essas categorias atendem a uma ampla variedade de necessidades e interesses, o que não apenas enriquece a experiência digital, mas também transforma profundamente os processos de comunicação, consumo e interação online. Nesse sentido, D’Andrea (2020) afirma que as plataformas formam um verdadeiro “ecossistema” digital, caracterizado por uma organização distribuída e interconectada que molda os fluxos informacionais e as dinâmicas econômicas.
Os serviços de streaming, como Netflix, Spotify e YouTube, exemplificam a revolução no consumo de entretenimento e mídia, proporcionando acesso sob demanda a bibliotecas extensas de conteúdo. Esses serviços modificaram o paradigma de distribuição de conteúdos culturais, conectando diretamente os consumidores a uma infinidade de opções personalizadas. De forma semelhante, os marketplaces, como Amazon, eBay e Mercado Livre, transformaram o comércio eletrônico, atuando como mediadores globais que conectam vendedores e compradores, enquanto coletam dados massivos que informam estratégias de marketing e otimização de serviços (CGI.br, 2023).
As redes sociais, por outro lado, são emblemáticas de como as plataformas moldam a comunicação contemporânea. Facebook, Instagram e Twitter tornaram-se ferramentas indispensáveis para expressão pessoal, construção de comunidades e interação social, ainda que, como ressalta Boyd e Ellison (2007), seu impacto seja ambivalente, pois também levantam preocupações sobre privacidade e manipulação de informações. De maneira complementar, os aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Telegram e Messenger, destacam-se pela mediação de comunicações instantâneas, facilitando a troca em tempo real de textos, chamadas e conteúdos multimídia.
As plataformas de jogos online, como Steam, PlayStation Network e Xbox Live, ilustram a convergência entre entretenimento e interação social. Além de oferecer experiências imersivas, essas plataformas promovem a formação de comunidades globais, conectando jogadores de diferentes origens e culturas. Gillespie (2018) aponta que essas plataformas combinam elementos de redes sociais e marketplaces, exemplificando a flexibilidade funcional que caracteriza o ecossistema digital.
Entretanto, essa diversidade funcional reflete um paradoxo: enquanto a multiplicidade de modelos e usos demonstra a flexibilidade das plataformas digitais, também acentua a dificuldade de defini-las de maneira unificada. Gillespie (2017, p.2) observa que “(...) “plataforma” é um termo escorregadio, em parte porque pode haver pouca coisa que una diferentes sites como uma categoria, e em parte porque ele é usado estrategicamente, tanto pelos participantes quanto pelos críticos.”
Em outras palavras, cada tipo de plataforma atende a diferentes necessidades e interesses dos usuários, contribuindo para um ambiente digital diversificado e inclusivo. A categorização das plataformas digitais pode ser até mesmo fluida, uma vez que algumas plataformas podem incorporar características de diferentes categorias.
Em diálogo com estudos organizacionais e de finanças, Poell e Nieborg (2018) apontam para a consolidação de “plataformas multilaterais”, isto é, de serviços online que baseiam seus modelos de negócio na articulação com outros serviços e mercados. É assim com as instituições jornalísticas, que dependem das plataformas infraestruturais para fazer circular e para remunerar suas produções, e também com os diferentes setores do entretenimento — games, músicas, produções audiovisuais —, ou ainda instituições ligadas à mobilidade e à ocupação do espaço urbano (Uber e Airbnb). (D’Andrea, 2020, p. 39)
A título de exemplo, uma plataforma de jogos pode integrar elementos de redes sociais, enquanto um serviço de streaming pode operar como marketplace para a venda de conteúdos adicionais. A interseção resultante entre categorias reforça a necessidade de abordagens regulatórias que considerem a multifuncionalidade e as interdependências das plataformas no ecossistema digital contemporâneo (CGI.br, 2023).
Isso significa que as plataformas virtuais não estão necessariamente limitadas a uma única categoria, e podem evoluir para atender às demandas em constante mudança dos usuários e do mercado. Ou seja, à medida que novas necessidades surgem e novas tecnologias são desenvolvidas, as plataformas digitais se adaptam e se transformam, incorporando características de diferentes aplicações e redefinindo os limites do que é possível dentro desse espaço virtual, o que reflete não só sua capacidade de incorporar características de diferentes modelos de aplicação, como também de transcender fronteiras funcionais previamente estabelecidas e expandir continuamente as possibilidades de interação, consumo e inovação no espaço virtual.
Essa “plasticidade” funcional e a constante evolução indicam que qualquer esforço de categorização definitiva está, por natureza, exposto ao risco da obsolescência. Se, por um lado, compreender os múltiplos formatos e finalidades dessas estruturas é essencial para orientar políticas públicas eficazes, por outro, torna-se evidente que um conceito normativo rígido dificilmente dará conta da complexidade e da volatilidade que caracterizam esses ambientes digitais. Essa tensão entre a necessidade de definição jurídica e a natureza mutável do objeto a ser regulado revela importantes desafios para os marcos legais vigentes — desafios que se manifestam de maneira particular nas tentativas legislativas recentes.
4.2. Limitações conceituais na regulação: o caso do PL 2768/22
Enquanto a consulta destacou a complexidade e a multidimensionalidade das plataformas digitais — abrangendo aspectos como intermediação, coleta de dados, efeitos de rede e poder de mercado —, o PL 2768/22 adota, apesar do rol extenso, uma abordagem restritiva que se limita a uma taxonomia rígida de modalidades de atuação (redes sociais, sistemas operacionais, serviços de intermediação, etc.).
O artigo 6º do PL 2768/22, ao definir “plataformas digitais” como “aplicações de internet”, de acordo com o inciso VII do art. 5º da Lei nº 12.965/14, executadas em modalidades específicas (art. 6º, II), revela uma visão estática que, apesar de bem-intencionada, é incompatível com a realidade polimórfica do ecossistema digital (Brasil, 2022). Para ser mais específico, a enumeração taxativa de categorias — de redes sociais a serviços de computação em nuvem — parte de premissas ultrapassadas, ignorando que plataformas contemporâneas são entidades adaptáveis, capazes de reconfigurar funcionalidades e modelos de negócio rapidamente.
O desafio de encontrar uma definição para plataformas digitais que delimite quem será objeto de regulação está no fato de que os modelos de negócio das plataformas são bastante mutáveis. Qualquer definição excessivamente restritiva que seja condição para regulação pode torná-la obsoleta rapidamente ou, pior ainda, incentivar a inovação perversa (quando os sujeitos de regulação mudam seu modelo de negócio para escapar do regramento, enquanto preservam os riscos que o justificaram). Idealmente, a regulação deve trabalhar com tipos de plataforma bem delimitados, não sendo completamente necessário um conceito jurídico geral de plataforma digital. (Comentário inserido por: Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) FGV Direito SP) (CGI.br, 2023).
Em soma, a tentativa de diferenciar “operadores de plataformas digitais” (inciso I) e “plataformas digitais” (inciso II) também é problemática. A definição de operador como “provedor de aplicações de internet”, conforme também brevemente proposto por Paulo Rená Da Silva Santarém na consulta individual, é vaga, pois não esclarece se inclui apenas desenvolvedores de aplicativos ou também intermediários, gerando ambiguidade sobre responsabilidades em cenários multifacetados — por exemplo, quem seria o “operador” de um aplicativo terceirizado na App Store: a Apple ou a empresa desenvolvedora?
Observa-se uma problemática de ordem estrutural ao amalgamar elementos de natureza heterogênea em sua taxonomia de modalidades reguladas, evidenciado pela ausência de hierarquização conceitual entre camadas técnicas e operacionais. As categorias como infraestrutura tecnológica (ex.: sistemas operacionais, computação em nuvem) coexistem sem distinção analítica com serviços de intermediação (ex.: redes sociais, marketplaces) e estratégias de monetização (ex.: publicidade online), configurando uma sobreposição de dimensões funcionais distintas.
Por exemplo, serviços de publicidade online são essencialmente uma estratégia de geração de receita, não uma modalidade de execução tecnológica (Zhu, F.; Iansiti, M., 2023). De forma semelhante, serviços de computação em nuvem não podem ser considerados uma forma de operação das plataformas, mas sim um modelo de infraestrutura que as suporta (IBM, 2021).
As consequências práticas dessas limitações conceituais são múltiplas e preocupantes. Em primeiro lugar, a classificação rígida pode levar a uma judicialização excessiva, com empresas contestando seu enquadramento em determinadas categorias. Em segundo lugar, plataformas com modelos de negócio inovadores ou híbridos podem ficar em um limbo regulatório, não sendo adequadamente contempladas por nenhuma das modalidades previstas. Por fim, a falta de critérios claros para diferenciação entre tipos de plataformas pode resultar em uma aplicação desigual das obrigações regulatórias, com algumas empresas sendo submetidas a exigências desproporcionais enquanto outras encontram brechas para se esquivarem da regulação.
A ambiguidade nas definições também reflete dificuldades em alinhar esse marco regulatório com outros já existentes, como o Marco Civil da Internet (Brasil, 2014). Esse, por sua vez, define provedores como empresas que oferecem funcionalidades acessíveis por meio de dispositivos conectados à rede, mas não especifica, por exemplo, se o “provedor” de um aplicativo disponibilizado em lojas virtuais, como a App Store, deve ser considerado o operador da loja (como a Apple) ou as empresas responsáveis pelos aplicativos disponibilizados na plataforma (como a Uber) (CGI.br, 2023). Inclusive, o IPRec, na pessoa de Rhaiana Valois, traz isso em sua contribuição:
Consideramos que a melhor estratégia seria manter a classificação estabelecida no Marco Civil da Internet (MCI), que distingue os intermediários tecnológicos em provedores de conexão e aplicação. No entanto, diante do contexto atual, acreditamos que poderiam ser criados novos subtipos dentro da categoria de provedores de aplicação, estabelecendo exceções à regra geral do art. 19 do MCI. As novas categorias deveriam ser definidas a partir de critérios gerais (CGI.br, 2023).
À medida que incorporam características de diferentes tipos de aplicações, essas plataformas expandem os limites do que é possível no espaço digital, redefinindo constantemente sua natureza e função. Sob essa perspectiva, as contribuições à consulta do CGI.br, apesar de apresentar conceitos de maioria generalista e ampla, caminham para a inexistência de rol taxativo, sugere-se a adoção de conceitos funcionais que capturem a essência operacional das plataformas digitais — sua capacidade de estruturar interações econômicas e sociais através da coleta sistemática de dados, do processamento algorítmico e da monetização dessas interações.
O PL 2768/22, em sua formulação atual, corre o risco de cair em dois extremos simultaneamente: é abrangente em suas categorizações, mas vago em seus critérios para futuras aplicações. A experiência comparada leva a concluir que, conforme Carlos Alberto Afonso:
Não há alcance nas propostas regulatórias atuais para abranger esses novos desafios. Há ainda outro espaço que essas propostas estão longe de alcançar: o universo cada vez mais diversificado na Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). Neste espaço há uma infinidade e variedade de dispositivos cuja origem não é clara, em que a responsabilidade pelo software embarcado ("firmware") é dificil de determinar, e em que riscos de segurança não são em consequência respondidos por fabricantes (CGI.br, 2023).]
Nesse prisma, o comentário reforça a necessidade de cautela. Como observa a Brasscom, a falta de consenso global sobre o que constitui uma “plataforma digital” inviabiliza a delimitação de mercados formais ou a análise concorrencial precisa. O PL 2768/22, ao reproduzir essa indefinição, corre o risco de criar obrigações desproporcionais ou brechas exploráveis, dependendo do enquadramento arbitrado. A judicialização excessiva e a regulação desigual seriam consequências inevitáveis, especialmente para modelos híbridos ou inovadores, de acordo com o que comentou a Associação Brasileira de Internet — ABRANET (CGI.br, 2023).
5. Considerações finais
As plataformas digitais configuram-se como um fenômeno multifacetado, cuja regulação impõe desafios complexos e urgentes. O artigo destaca que, para que qualquer iniciativa regulatória seja eficaz, é imprescindível identificar claramente quem será afetado pelas normas estabelecidas, as quais exigem não apenas um reconhecimento detalhado dos diferentes agentes envolvidos — operadores, usuários, desenvolvedores e consumidores — mas também uma compreensão aprofundada de como esses agentes interagem no ecossistema digital. A ausência de delimitações claras compromete a eficácia da regulação, permitindo interpretações arbitrárias, favorecendo determinados grupos e enfraquecendo a previsibilidade jurídica necessária para um ambiente digital equilibrado.
Diante de um quadro inevitável de regulação, o artigo aponta para a necessidade de que os objetivos regulatórios sejam definidos com precisão, articulando-se ao corpo de agentes que terão deveres e direitos submetidos ao escrutínio normativo. Uma regulação que não considere as especificidades dos diferentes modelos de negócios, funções e impactos das plataformas não apenas negligencia a complexidade do tema, mas também corre o risco de criar distorções significativas no mercado e na sociedade. Nesse contexto, a construção de normas que dialoguem com os diversos aspectos das plataformas — desde seu papel como intermediadoras até sua influência algorítmica nas decisões sociais e econômicas — é crucial para uma abordagem justa e equilibrada.
O artigo enfatiza ainda que, quando adotada uma abordagem mais ampla, é necessário que a elaboração normativa considere a diversidade dos aspectos envolvidos e seja capaz de se adaptar rapidamente às transformações tecnológicas e mercadológicas. Isso implica substituir termos vagos por critérios técnicos e incorporar mecanismos legais flexíveis, capazes de abranger novas funcionalidades sem engessar o texto legal.
Em última análise, a regulação de plataformas digitais demanda um equilíbrio delicado. Se mal-conduzida, pode sufocar novos negócios e criar barreiras de entrada; se insuficiente, pode perpetuar desigualdades, abusos de poder econômico e violações de direitos. A solução não está em leis únicas, mas em um ecossistema normativo composto por regulações setoriais, articuladas a princípios transversais. Nesse sentido, propõe-se que a base regulatória seja construída de forma a articular elementos técnicos e sociais, reconhecendo a multiplicidade das plataformas e estabelecendo critérios claros para sua categorização e responsabilização.
O verdadeiro caminho está em romper com a ilusão de um “conceito único” e acolher a complexidade intrínseca das plataformas digitais, permitindo que as normas acompanhem sua dinamicidade e multiplicidade com a mesma sofisticação e flexibilidade que as caracterizam.
Referências
BARRETO, Camila. Crimes virtuais: as inovações jurídicas decorrentes da evolução tecnológica que atingem a produção de provas no Processo Penal. Uniceub.br, 2015. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5977. Acesso em: 27 out 2024.
BOYD, D.M. e ELLISON, N.B. (2007), Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Revista de Comunicação Mediada por Computador, 13: 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.
BRASIL. Lei no 12.965, de 23 Abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, 2014.
BRASIL. Projeto de Lei 2.630. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Brasília: Senado Federal, 3 jul. 2020. Disponível em: https://www.camara.leg.br/propostaslegislativas/2256735. Acesso em 03 jul. 2024.
BRASIL. Projeto de Lei no 2.768/2022. Dispõe sobre a organização, o funcionamento e a operação das plataformas digitais que oferecem serviços ao público brasileiro e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 2022.
COLLI, Maciel. Cibercrimes. Limites e perspectivas à investigação policial de crimes cibernéticos. Curitiba: Juruá Editora, 2010. P. 44.
D’ANDRÉA, Carlos. Pesquisando plataformas online: conceitos e métodos. Ufba.br, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/32043. Acesso em: 21 out. 2024.
EJIK, N. V. FAHY, R. TIL, H. V. NOOREN, P. STOKKING, H. GELEVERT, H. F. B. F. 2015. Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policyoptions. Disponível em: https:// www.tno.nl/media/7366/analytical_framework_digital_platforms_tno_eccd_1….
EUROPEAN PARLIAMENT, Directorate-General for Internal Policies of the Union, VAN GORP, N., BATURA, O. Challenges for competition policy in a digitalised economy. European Parliament, 2015. Available from: https://data.europa.eu/doi/10.2861/25790.
EVANS, David S; SCHMALENSEE, Richard. Matchmakers — The new economics of multisided platforms. Harvard Bussines Review Press. Boston, Massachussetts. 2016.
FERREIRA, Ivette Senise. A criminalidade informática. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito e Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2000. p. 207 — 237.
FURLANETO NETO, M.; GUIMARÃES, J. A. C. Crimes na Internet : elementos para uma reflexão sobre a ética informacional. Revista CEJ, v. 7, n. 20, p. 67-73, 20 mar. 2003.
GILLESPIE, T. Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. New Haven: Yale University Press, 2018b.
GILLESPIE, T. The politics of ‘platforms’. New Media & Society, Thousand Oaks, v. 12, n. 3, p. 347-364, 2010.
GILLESPIE, Tarleton. “Governance of and by platforms”. SAGE Handbook of Social Media. 2017.
GROHMANN, R; SALVAGNI, J..Trabalho Por Plataformas Digitais: Do Aprofundamento Da Precarização À Busca Por Alternativas Democráticas. São Paulo. Serviço Social do Comércio — Administração Regional no Estado de São Paulo, ;2023. .183. p. ISBN: 978-85-9493-279. (Coleção Democracia Digital).
HANDS, J. Platform communism. Culture machine. 2013 Jul 28;14.
IBM. What are IaaS, PaaS and SaaS? IBM Think, 2021.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
LOPES, Alan Moreira; SANTOS, Keila dos; TEIXEIRA, Tarcisio. Direito digital: teoria e prática. Editora Tirant lo Blanch. Stj.jus.br, 2021. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/155698. Acesso em: 05 out. 2024.
MALAQUIAS, Roberto Antônio Darós. Crime Cibernético e Prova — A investigação criminal em busca da verdade. Curitiba: Juruá Editora, 2012.
MORAES DE LIMA, Marcos Francisco Urupá; VALENTE, Jonas Chagas Lucio. Regulação de plataformas digitais: mapeando o debate internacional. Liinc em Revista, v. 16, n. 1, p. e5100, 2020. Disponível em: https://revista.ibict.br/liinc/article/view/5100. Acesso em 10 fev. 2024.
PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
RECUERO, R. Mídia social, plataforma digital, site de rede social ou rede social? Não é tudo a mesma coisa?. Medium, [Brasil], 9 jul. 2019. Disponível em: https://medium.com/@ [78]pesquisando plataformas online raquelrecuero/m%C3%ADdia-social-plataforma-digital-site-de-rede-socialou-rede-social-n%C3%A3o-%C3%A9-tudo-a-mesma-coisad7b54591a9ec. Acesso em 01 nov. 2024.
SILVA, Ângelo Roberto Ilha da et al. Crimes cibernéticos: racismo, cyberbullying, deep web, pedofilia e pornografia infantojuvenil, infiltração de agentes por meio virtual, obtenção das provas digitais, nova lei antiterrorismo, outros temas. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2ªed, 2018.
SILVA, Marco Antônio Marques da Silva. Acesso à Justiça Penal e Estado Democrático de Direito. São Paulo: Ed. J. de Oliveira, 2001.
Sistematização das contribuições à consulta sobre regulação de plataformas digitais [livro eletrônico] / [editor] Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR; [textos] Juliano Cappi, Juliana Oms. — São Paulo: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 2023.
SRNICEK, Nick. Platform Capitalism. Polity Press, 2016.
VAN DIJCK, J., POELL, T., & DE WAAL, M. The Platform Society: Public Values in a Connective World. Oxford University Press, 2018.
ZHU, F., & IANSITI, M.. Managing conflicting revenue streams from advertisers and subscribers on online video platforms. Journal of Business Research, 158, 113-124, 2023.